RESENHA |
A historiadora Dayane Soares da Silva, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), resenhou o livro “1968: o diálogo é a violência” da historiadora e socióloga Maria Ribeiro do Valle, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), publicado pela Editora Unicamp, em 2008.
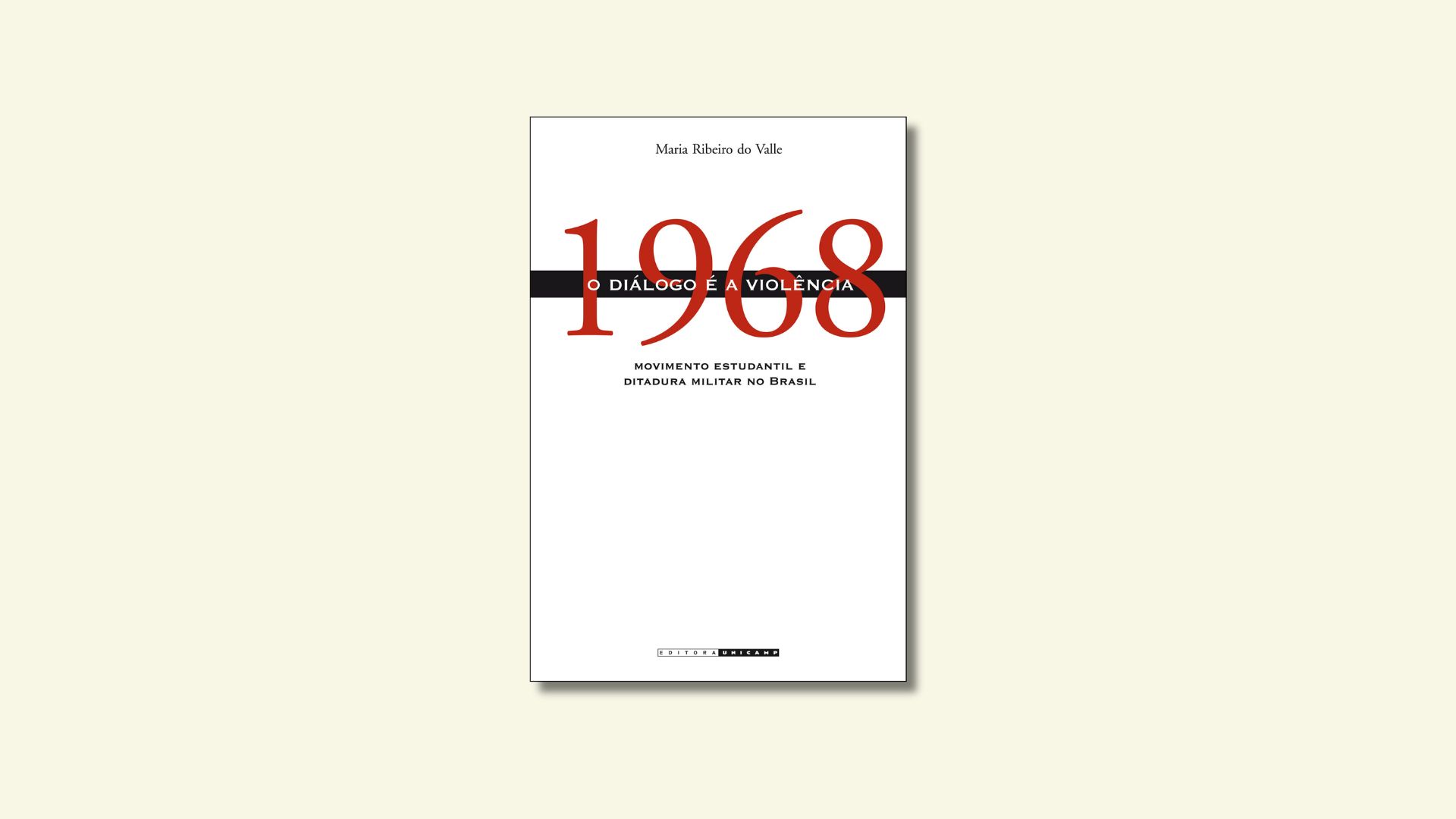
Dando sequência à diversidade de eventos que marcaram o século XIX, o ano de 1968 foi palco de uma série de lutas contestatórias em várias regiões do mundo, que, apesar da distância entre seus locais de ocorrência, tiveram, em grande parte, como ponto de conexão seus protagonistas: a juventude estudantil[1]. O Brasil foi um dos cenários dessas ações, cuja tônica local foi definida pelas características e feitos do regime governamental vigente, a ditadura militar (1964-1985). Em um plano mais amplo, é a respeito das relações entre o Movimento Estudantil (ME) e o regime militar brasileiro, e mais especificamente das representações da violência entre esses agentes naquele contexto, que recaíram os esforços de Maria Ribeiro do Valle em 1968: O diálogo é a violência – movimento estudantil e ditadura militar no Brasil.
Maria Ribeiro do Valle, atualmente professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em sua obra 1968, derivada de sua dissertação de mestrado (1997), adota uma abordagem instigante ao optar pela reconstituição histórica a partir dos fatos produzidos no calor das lutas, contemplando e contrapondo as perspectivas do estudantado, do governo e da imprensa. Sua análise, centrada na dinâmica e nas representações da violência que revestiram os acontecimentos daquele ano, abrangendo tanto o recrudescimento da repressão estatal quanto o avanço do movimento estudantil em direção à violência, também engloba as concepções sobre os eventos expostas pela grande imprensa, utilizando estas produções não apenas como fontes de consulta dos fatos, mas como parte integral da análise.

Para a elaboração de 1968: O diálogo é a violência, o corpus documental adotado por Valle contou com registros da grande imprensa, documentos orgânicos do movimento estudantil e produções das autoridades militares. Os resultados da investigação e análise de Valle foram dispostos, cronologicamente e criticamente, nos quatro capítulos que compõem o livro: A Morte de Edson Luís, A Sexta-feira Sangrenta e a Passeata dos Cem mil, A Guerra da Maria Antônia e O Congresso da XXX UNE.
O primeiro capítulo, intitulado A Morte de Edson Luís, concentra-se nos principais acontecimentos do primeiro semestre de 1968 no meio estudantil. Nele, Maria Ribeiro do Valle destaca as transformações que ditaram a tônica das atividades do ME a partir da morte do estudante secundarista. O episódio, deflagrado em fevereiro daquele ano após a invasão policial ao restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, provocou mudanças tanto no meio estudantil quanto na atuação das forças repressivas. Valle evidencia os principais reflexos desse trágico acontecimento, incluindo o endurecimento político, a transição da ação dos estudantes para o enfrentamento – justificada como reação à polícia –, a polarização da imprensa e a sensibilização da opinião pública em favor dos estudantes.
Interessante mencionar o destaque feito pela autora em relação ao contraste nas representações da violência pela grande imprensa, exemplificado nas publicações do Correio da Manhã e Visão, que divergiram em suas interpretações sobre o desencadeador da violência. Valle confere singularidade à sua obra ao evidenciar as tentativas de atribuição de responsabilidade pela violência ao adversário, tanto por parte dos estudantes em relação ao governo quanto vice-versa.
Em A Sexta-feira Sangrenta e a Passeata dos Cem mil, segundo capítulo do livro, a autora trata dos antecedentes e das repercussões destes dois eventos que formam o título. Ambos eclodiram na segunda quinzena de junho de 1968, e culminaram com a adesão de parte expressiva da população do Rio de Janeiro ao enfrentamento. Os acontecimentos abordados neste capítulo tiveram como motor inicial a contestação estudantil à Política Educacional do Governo (PEG) e aos acordos entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for Internacional Development (USAID), conhecido como MEC-USAID[2]. Dada a repressão policial, o que inicialmente era para ser um protesto local, realizado na sede do Ministério da Educação, rapidamente se transformou em uma grande passeata, marcada pela repressão das forças policiais e pela reação dos estudantes. No dia seguinte, uma nova reunião estudantil na Praia Vermelha resultou em tragédia: os estudantes são mantidos em um cerco no campo do Botafogo, onde enfrentaram intensa repressão.
Como saldo, convocou-se para o dia 21 de junho a passeata que ficou conhecida, posteriormente, como Sexta-Feira Sangrenta. Este episódio contou com a participação ativa de populares e houve intensos conflitos, resultando em 28 mortes. Valle assemelha a ação policial frente à população como se estivesse diante de uma guerrilha urbana organizada. A imprensa realizou ampla cobertura e divulgação dos eventos, o que provocou descontentamento entre as autoridades, que culpabilizaram a mídia pela repercussão dos acontecimentos.
Para o dia 26 de junho de 1968, foi convocada e autorizada a Passeata dos Cem Mil, que ocorreu sem a interferência policial e contou com a adesão massiva da sociedade. Na ocasião, “o governo e o ME sentem necessidade de controlar à violência”, como parte da estratégia a fim de “atribuir o ‘caráter violento’ ao ‘inimigo’ na tentativa de conquistar o apoio da população”, como disse Valle. Apesar desta estratégia, a autora observa que a violência apareceu como “a grande tônica dos discursos” e foi utilizada para incitar as massas a adotar a violência no momento apropriado. Naquele contexto, a opção de parte da esquerda pela violência fica evidenciada. Tal qual nos momentos anteriores, a imprensa se manifestou em relação aos eventos: o Correio da Manhã tomou partido do líder estudantil Vladimir Palmeira, dada a serenidade e não-violência em seu discurso. Já o Visão responsabilizou o ME por provocar o endurecimento do regime, defendendo a legitimidade apenas na luta específica.
O regime, buscando frear as movimentações estudantis, endureceu suas práticas: as passeatas foram proibidas, e a imprensa tornou-se alvo de contestação, respondendo com posturas diversas. Enquanto o Correio da Manhã manteve o apoio aos estudantes, o Visão optou por não publicar matérias sobre os últimos acontecimentos. Semelhantemente, as posições opostas se acentuaram no meio estudantil, com membros discordando sobre a aceitação ou não de um diálogo com o governo. Valle evidencia a postura também ambígua dos setores militares e governamentais nesse cenário: se por um lado pretendiam manter o diálogo para a contenção das agitações estudantis, mantendo os “acenos liberalizantes” – voltados ao atendimento de questões educacionais–, por outro lado intensificavam as práticas repressivas, demonstrando uma abordagem contraditória em relação à gestão da crise.
No terceiro capítulo, intitulado A Guerra da Maria Antônia, a autora destaca os reflexos dos acontecimentos relatados no segundo semestre de 1968, bem como algumas importantes transformações. O recrudescimento da repressão estatal e a atuação de organizações paramilitares passaram a desempenhar um papel cada vez mais proeminente, enquanto uma parcela dos estudantes começou a trilhar rumo à violência armada. O governo intensificou o discurso que relacionava os estudantes ao inimigo externo, uma narrativa que também foi adotada por parte da imprensa. A população, por seu turno, afastou-se das movimentações, com exceção das mães, que continuaram a acompanhar com vigor as mobilizações de protesto.
Desde junho, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), um dos centros locais de oposição ao regime, estava ocupada por estudantes. No dia 2 de outubro, iniciou-se uma batalha entre os estudantes ocupantes e elementos instalados na Mackenzie, local de concentração da direita paulistana, apoiada pelo Comando de Caça aos Comunistas (CCC). Com o apoio da polícia militar, o grupo situado na Mackenzie obteve maior sucesso no conflito. Ao final da Batalha da Maria Antônia, o prédio da FFCL-USP estava destruído, dezenas de estudantes feridos e o estudante secundarista José Guimarães morto – uma ação cuja autoria não foi identificada.
Valle soma à narrativa as mudanças subsequentes ao evento, tanto no posicionamento governamental quanto no do movimento estudantil. A abordagem também recai sobre as distintas ênfases atribuídas pela impressa aos acontecimentos do semestre anterior. A morte do estudante José Guimarães, por exemplo, ao contrário do que ocorreu com Edson Luís, gerou desconfiança em relação aos próprios estudantes. Os jornais paulistas, diante do episódio e num contexto de crescentes ações das guerrilheiras, ainda sem autoria, fizeram um movimento de busca pelos culpados entre os próprios estudantes, sendo atribuída a eles a responsabilidade pela violência. Esses posicionamentos foram determinantes na progressiva perca de apoio ao movimento estudantil, levando ao seu refluxo e tornando a opção pela violência – resultante do aumento da repressão e da opção de algumas lideranças – ainda mais significativa, como acrescentou Valle.
No quarto e último capítulo, O Congresso da XXX UNE, a autora focaliza sua narrativa em torno do trigésimo congresso nacional da entidade máxima de representação estudantil, realizado em Ibiúna (SP), em 11 de outubro de 1968, e em seus efeitos imediatos.
O encontro, que deveria culminar na eleição de uma nova diretoria para a União Nacional dos Estudantes (UNE), foi abruptamente interrompido pela invasão das forças repressivas, resultando na prisão de suas principais lideranças e assinalando o auge do refluxo do movimento estudantil de massas. As manifestações em denúncia ao ocorrido não tardaram, juntamente com a deflagração de greves. Mas, os choques com a polícia e as tentativas de controle aos estudantes deram o tom.
Valle destaca novamente o papel da grande imprensa na cobertura dos eventos relacionados ao movimento estudantil, ressaltando que, em contraste com o primeiro semestre, a representação do ME passou por significativas alterações: a centralidade das publicações recaiu sobre os armamentos e materiais “subversivos” encontrados no local do Congresso, o que foi crucial para a edificação de uma imagem “militarista dos estudantes”. Além disso, a simultaneidade entre ações terroristas e manifestações estudantis passou a ser enfatizada, enquanto a pacificidade da ação das forças estatais no desmonte do evento foi destacada. “A imagem de ‘inimigo externo’, que desde o início, faz parte do discurso do governo, torna-se, agora, dominante”, de modo que “a imprensa respalda a versão do governo, repercutindo no posicionamento oscilatório da população”, cuja ausência é verificada nos últimos episódios, como afirmou Valle.
Observa-se que, parte da militância estudantil, que desde a Batalha da Maria Antônia já demonstrava sinais de militarização, continuou rumo à radicalização, enquanto o movimento estudantil, como movimento de massas, enfraqueceu. Não suficientes essas alterações, outras medidas as acompanharam: o Ato Institucional nº 5 (AI-5), instituído em 13 de dezembro, e a realização da última grande operação de desmobilização do movimento estudantil de 1968, com a invasão ao Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), cujos efeitos também repercutiriam na grande imprensa, como afirmou a historiadora Dayane Soares da Silva.
Em síntese, ao longo das páginas de 1968: O diálogo é a violência, é possível identificar dois grandes momentos de embate e representações, sendo que a questão da violência foi conteúdo contínuo e crescente nos discursos e práticas do governo e do estudantado: amplamente cobertos pela imprensa. Nota-se, ainda, a atribuição do caráter violento como ferramenta de acusação ao polo de luta oposto, servindo também para justificar as ações do acusador. Valle demonstra, portanto, que ao longo daquele ano o diálogo foi a violência.
À época de sua primeira publicação, a autora inovou ao abordar o assunto através de fontes e opções analíticas ainda pouco exploradas. Sua escolha por uma narrativa cronológica dos acontecimentos não reduziu o livro a uma simples reconstrução de fatos; ao contrário, apesar de sua fluidez, que proporciona conforto ao leitor, todos os capítulos são permeados por crítica e rigor, tornando prescindível o destaque de qualquer fragilidade específica.
Passadas mais de duas décadas desde seu lançamento e de cinco desde sua reedição, apesar da temática ter sido visitada por outros estudiosos, 1968 mantém sua relevância e sua posição de obra de referência. Disponibilizar aos leitores, de forma analítica e pragmática, fatos documentados sobre acontecimentos de um dos mais dinâmicos anos da década de 1960 é um mérito da autora que sobreviveu ao tempo. Esses e outros atributos fazem com que 1968, de Maria Ribeiro do Valle, seja uma leitura indispensável a todos que optarem por se aventurar no campo temático.
Notas
[1] Nos referimos às lutas protagonizadas majoritariamente por estudantes em países como França, Tchecoslováquia, México, entre outros. Sobre os movimentos juvenis de 1968, ver também: REIS FILHO, D. A.; MORAES, P. 1968, a paixão de uma utopia. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1988; VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não acabou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
[2] Os acordos MEC-USAID consistiram em um conjunto de acordos caracterizados pela proposição e defesa de uma série de modificações nas Instituições de Ensino Superior (IESs) brasileiras pretendendo uma modernização de caráter tecnicizante. Para maior detalhamento sobre os acordos MEC-USAID, Cf. ALVES, Márcio Moreira. Beabá dos MEC-USAID. Rio de Janeiro: Gernasa, 1968; FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. Educar em Revista, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155013353003. Acesso em: 17 out. 2024.
ALVES, Márcio Moreira. Beabá dos MEC-USAID. Rio de Janeiro: Gernasa, 1968.
FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. Educar em Revista, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155013353003. Acesso em: 17 out. 2024.
REIS FILHO, D. A.; MORAES, P. 1968, a paixão de uma utopia. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1988.
SILVA, D. S. da. Operação Crusp: Um assalto à autonomia universitária. Saeculum, João Pessoa, v. 26, n. 44, p. 44–60, jan./jun. 2021. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/view/56461/33909. Acesso em: 17 out. 2024.
VALLE, Maria Ribeiro do. 1968: O diálogo é a violência – movimento estudantil e ditadura militar no Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora Unicamp, 2016.
VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não acabou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
Como citar esta resenha
SILVA, Dayane Soares da. 1968 e a violência. História Editorial, v. 1, n. 1, 10 nov. 2024. (Resenha). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14063444. Disponível em: https://historiaeditorial.com.br/1968-e-a-violencia. Acesso em: 10 nov. 2024.

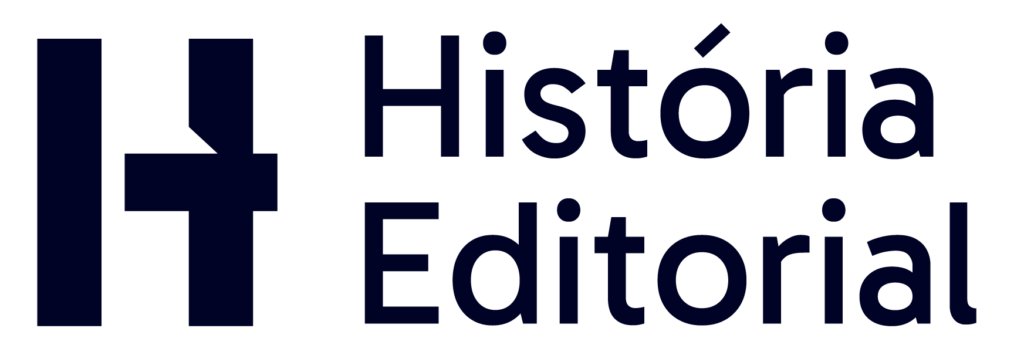
© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.