ARTIGO DE DIVULGAÇÃO |
O I Congresso do Negro Brasileiro marcou a história ao articular uma agenda antirracista voltada ao protagonismo negro e à conquista de direitos no pós-abolição

O I Congresso do Negro Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 1950, foi organizado por Abdias do Nascimento (1914–2011), Alberto Guerreiro Ramos (1915–1982) e Edison Carneiro (1912–1972) com o propósito de discutir as mazelas que afetavam as pessoas negras em um país marcado pelo racismo e pelas desigualdades sociais, a participação histórica da população na formação do país e suas tradições culturais. “O negro passaria da condição de matéria prima de estudiosos para a de modelador da sua própria conduta, do seu próprio destino”, disse Abdias, evidenciando a proposta de tornar o congresso um espaço para o protagonismo da população negra, do qual se esperava a participação de trabalhadores, em especial dos artistas, pesquisadores e intelectuais.
Organizado pelo Teatro Experimental do Negro (TEN) — movimento desenvolvido por lideranças negras dedicado em promover o acesso de homens e mulheres negros ao espaço artístico, o debate sobre questões raciais e garantir a alfabetização como direito da população negra —, o evento reuniu uma rede significativa de congressistas, como trabalhadores, intelectuais, pesquisadores, artistas e lideranças de associações em torno de uma pauta que atravessava os campos da cultura, da política e da educação. O congresso foi concebido como um espaço necessário de reflexão e denúncia, mas também da afirmação identitária do povo negro brasileiro.
A proposta desse evento (ou certame), que se pretendia científico e de cunho popular para um engajamento político em torno da pauta antirracista, e seu temário, foram aprovados na Conferência Nacional do Negro (CNN), organizada pelo TEN, em 1949. Sua realização seria uma comemoração ao centenário do fim do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, promovido pela Lei Eusébio de Queirós, promulgada no dia 4 de setembro de 1850, sendo uma proposta do Ministro da Justiça Eusébio de Queirós (1812–1868), em resposta às pressões da Inglaterra pelo fim do tráfico. A comissão organizadora da CNN foi transformada em Comissão Central de coordenação do congresso, definindo como medida a formação de comissões preparatórias nos estados brasileiros e Distrito Federal (capital do Rio de Janeiro à época) para promover a divulgação do congresso e o encaminhamento de teses, comunicações e sugestões para o evento. Apenas São Paulo, por meio da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP), instalou uma comissão que elegeu Roger Bastide (1898–1974) e Geraldo Campos de Oliveira como presidente e secretário, respectivamente.
Entre os congressistas, estavam Aguinaldo Camargo (1918–1952), Sebastião Rodrigues Alves (1913–1985), Jorge Prado Teixeira, Ruth de Souza (1921–2019), Elza Soares Ribeiro, Guiomar Ferreira de Matos, Rosa Gomes de Souza, Rubens Gordo, Alvarino Antônio de Castro, Joviano Severiano de Melo, Ironides Rodrigues (1923–1987), José Bernardo da Silva, padre Pedro Schoonakker, Aníbal Souza, deputado Afonso Arinos de Melo Franco (1905–1990), senador Hamilton de Lacerda Nogueira (1897–1981), Charles Wagley (1913–1991), Luiz de Aguiar Costa Pinto (1920–2002), Darcy Ribeiro (1922–1997), Mário Barata (1921–2007), Carlos Galvão Krebs (1914–1992), Walfrido de Morais, Orlando Aragão, Romão Silva, Celso Alves Rosa, João Nepomuceno, Joaquim Ribeiro e José Pompílio da Hora. Ainda era esperada a participação de outros intelectuais renomados, como Gilberto Freyre (1900–1987), Fernando Ortiz (1881–1969), Dante de Laytano (1908–2000) e Florestan Fernandes (1920–1995).
O congresso contou com a manifestação de apoio de diversas entidades e instituições respeitadas, como a revista francesa Présence Africaine, Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, Faculdade de Filosofia da Bahia, Teatro Folclórico Brasileiro, Orquestra Afro-Brasileira, Organização das Nações Unidas (ONU), Grêmio Cruz e Souza de Juiz de Fora, União dos Homens de Cor, União Cultural dos Homens de Cor, Congresso Nacional. Alguns países manifestaram apoio ao congresso, destacando-se: Estados Unidos da América (EUA), Cuba, Haiti, México, União Sul-Africana (atual África do Sul), Abissínia (atual Etiópia), Angola e França. O apoio financeiro da Câmara de Deputados foi fundamental para cobrir os custos de realização do evento, que colaborou com Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) via projeto apresentado pelo deputado Nelson Carneiro (1910–1996), irmão mais velho de Edison Carneiro. Mas, nem tudo foi apoio. O congresso foi colocado como espaço de sociabilidade suspeito. Os organizadores foram acusados de formarem “quistos raciais”, uma espécie de promoção racista às avessas, como disse Alberto Guerreiro Ramos. Uma oportunidade política perfeita para beneficiar a candidatura de Abdias a vereador, pelo Partido Social Democrático (PSD), e os interesses do próprio Guerreiro Ramos, como suspeitava Solano Trindade (1908–1974).
As teses apresentadas refletiam diferentes narrativas de intelectuais negros e brancos sobre aspectos sociológicos e antropológicos da população negra. Entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, foram debatidas diversas teses, como O quilombo da Carlota e Iemanjá e a mãe d‘agua de Edison Carneiro, Escravidão e abolicionismo em São Paulo de Oraci Nogueira, O negro – o preconceito – meios de sua extinção de Jorge Prado Teixeira e Rubens da Silva Gordo, Escravidão e Abolição em Areias de Luiz Pinto, Música Folclórica de Darcy Ribeiro, Fórmula étnica da população da cidade do Salvador de Tales de Azevedo, A criminalidade negra no Estado de São Paulo e Sonho de Negros de Roger Bastide, Unesco e Relações de Raça de Guerreiro Ramos, Música Negra de Rosa Gomes de Souza. Também ocorreram as mesas-redondas Há um problema do Negro no Brasil? e A psicologia social no tratamento das relações de raça. Alguns de seus debatedores foram: Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Edison Carneiro, Jorge Prado Teixeira, Aguinaldo Camargo, Sebastião Rodrigues Alves, Darcy Ribeiro, Hamilton Nogueira e Carlos Galvão Krebs.
O congresso é resultado dos projetos de liberdade construídos pela população negra desde sua inserção numa sociedade escravista até o pós-abolição, a partir de 13 de maio de 1888. O país encontrava-se num esforço de redemocratização, que contraditoriamente ocorria na eleição de 1950 que Getúlio Dornelles Vargas (1882–1954) — comandou a ditadura do Estado Novo por oito anos (1937–1945) — ganhou. Esses projetos conseguiram mais liberdade devido à ausência de setores da repressão, como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do primeiro governo de Vargas (1930–1945). O congresso foi criado num momento estratégico para ocuparem o centro do debate público, transformando reivindicações históricas em pautas nacionais.
O TEN, desde sua fundação na década de 1940, desejava romper com a invisibilização imposta à população negra. A associação era mais do que uma experiência artística. Constituía-se enquanto espaço pedagógico de combate ao racismo, valorização das raízes africanas e criação de oportunidades para as pessoas negras, ainda vítimas das estruturas de desigualdades herdadas de uma sociedade escravista que teve que organizar suas bases para garantir a permanência de seus privilégios no pós-abolição. O congresso tentou ampliar as ferramentas de luta e resistência, convidando a população negra a pensar, discutir e propor soluções para os problemas sociais que a afetavam em colaboração com intelectuais e setores sociais brancos.
A circulação das pautas do congresso na imprensa

Na imprensa brasileira circularam diversas matérias e artigos jornalísticos autorais. Grande parte destes foram assinados por Guerreiro Ramos, antes e após a realização do congresso. Foram 74 publicações entre matérias e artigos autorais, sendo majoritariamente publicados no Quilombo (9,5%), A Manhã (9,5%), Jornal de Notícias (6,8%), Correio da Manhã (12,2%) e Diário de Notícias (16,2%). Apesar do esforço da comissão organizadora em criar comissões estaduais para a divulgação do evento, as matérias circularam apenas nos estados de Minas Gerais (5,4%), Rio de Janeiro (73%), São Paulo (14,9%), Pernambuco (5,4%) e Amazonas (1,4%), demonstrando que a imprensa nacional não deu a devida atenção à divulgação do evento, ficando restrita à região Sudeste do país, especialmente ao eixo Rio-São Paulo.
A imprensa trouxe, na maioria das publicações, uma visão descritiva do congresso. Uma parte significativa dos materiais de divulgação apresentou ao público leitor dos periódicos a vinculação do evento com o TEN e a CNN, datas de realização e o temário, este dividido em seis eixos temáticos — história, vida social, sobrevivências religiosas e folclóricas, línguas e estética — aprovados também na CNN, no dia 13 de maio de 1949. Os eixos dialogam ao mostrar como a experiência negra moldou o Brasil. O congresso demonstrou interesse em explicar a escravidão, o tráfico, as resistências e a participação política dos negros; revelar como essas heranças impactaram nas condições de vida, desigualdades e formas de organização; evidenciar o quanto as sobrevivências religiosas e folclóricas mostram a continuidade e a reinvenção das tradições africanas em rituais, festas, músicas, danças e lutas; demonstrar a influência africana no português e nas práticas culturais; integrar tudo isso ao transformar vivências históricas, sociais e espirituais em arte, identidade e afirmação política.
O congresso fez circular o temário na imprensa, mas os possíveis intelectuais a apresentarem teses também ganharam destaque em algumas matérias. Destacou-se em várias delas a figura de Roger Bastide, Gilberto Freyre, Afonso Arinos de Melo Franco, Guiomar Ferreira de Matos, Oracy Nogueira, Mario Barata, Mario Pedrosa, Luís da Câmara Cascudo, Ironides Rodrigues, Edison Carneiro, Charles Wagley, Guerreiro Ramos, dentre outros. Os nomes desses intelectuais eram evocados para emprestar legitimidade e autoridade aos eixos temáticos que seriam discutidos a partir de suas teses e aos objetivos do certame científico, cultural e político. Nota-se que alguns desses nomes estavam na organização do evento, como o renomado historiador e folclorista Edison Carneiro, com uma produção intelectual consagrada e reconhecida pelos seus pares sobre história e cultura afro-brasileira.
Os jornais aproveitaram o contexto de realização do congresso para alimentar em algumas de suas publicações sobre o evento a ideia de democracia racial (made in Brazil). O Diário de Notícias, no dia 14 de julho de 1950, publicou uma moção de apoio do Centro Folclórico “Mário de Andrade”, TEN e da comissão de São Paulo do I Congresso do Negro Brasileiro, contra o racismo sofrido pela bailarina Katherine Dunham (1909–2006) no Esplanada Hotel, em São Paulo. A redação do jornal negou que práticas racistas sejam parte da cultura brasileira, sendo este um fato isolado. Outras matérias semelhantes circularam, demonstrando uma preocupação da imprensa em negar o racismo e destacar sua inconstitucionalidade, sendo este um parasita inserido no corpo social do país por meio das atividades de propaganda no nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial (1935-1945). Guerreiro Ramos e Abdias do Nascimento também publicaram na imprensa declarações que reafirmavam a existência de um sistema de integração entre brancos e negros em seu curso histórico no país, corroborando a amenização do problema.
O Congresso e o Projeto UNESCO da ONU
Durante os dez dias de atividades do congresso, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), sediada na Rua Araújo Porto Alegre, nº 71, Centro; e o estúdio do TEN, situado à Rua Mayrink Veiga, nº 13, 2º andar, ambos no Rio de Janeiro, transformaram-se em espaços de debates e trocas intelectuais. O evento abriu espaço para uma nova geração de pensadores, pesquisadores e ativistas que reivindicavam o direito de falar sobre os próprios dilemas e de uma parcela significativa da população brasileira. Reconhecendo a contribuição do I e II Congresso Afro-Brasileiro, ocorridos em 1934 no Recife (PE) e em 1937 em Salvador (BA), o congresso se definiu como espaço marcado pelo protagonismo de diversos setores da população negra, o que na leitura de Abdias e Guerreiro Ramos não ocorreu nos dois anteriores, organizados por Gilberto Freyre e Edison Carneiro, respectivamente.

No dia 26, sábado, às 19h, houve uma preparação do congresso no estúdio do TEN, resultando na distribuição de seu regimento e programa de trabalho. Na sequência, às 20h, instalou-se o evento no salão da ABI, com a participação de Abdias, Roger Bastide (representante da França), Nóbrega da Cunha (representante da ONU), representante do Arcebispo do RJ e Afonso Arinos, que presidiu a sessão. Esperava-se a presença do presidente da República Eurico Gaspar Dutra (1883–1974) e seu Ministro da Justiça. A mesa de encerramento foi composta por Edison Carneiro, Abdias, Guerreiro Ramos, Ruth de Souza e Hamilton Nogueira, seu presidente. A sessão também foi acompanhada por outros intelectuais e personalidades artísticas.
Algumas das teses apresentadas foram fundamentais para romper com a narrativa hegemônica do “senhor bom” e do “escravo submisso”, que reforçava uma ideia de relação de “compreensão” e “conciliação”, sendo uma posição inspirada em experiências diferentes da sociedade brasileira, como disse Guerreiro Ramos. A tese apresentada por Oracy Nogueira rompe com essa leitura romantizada e idealizada das classes dirigentes brancas, ao analisar os documentos de um município do interior de São Paulo, demonstrando que para entender as realidades macros da crueldade enfrentadas pelas pessoas negras na escravidão seria necessário aprofundar os documentos existentes nos municípios do país, sendo esta uma sugestão de Roger Bastide, e aprovada pela assembleia. Essa é uma clara oposição à produção ensaística dos intelectuais que seguem a perspectiva de leitura da relação entre “senhor” e “escravizado” de Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala (1933), sendo Nogueira e Edison Carneiro alguns desses congressistas opositores.
A participação de representantes da ONU e de Charles Wagley — um dos pesquisadores que se envolveria com o projeto UNESCO para investigar as relações raciais no Brasil entre 1951 e 1952 —, segue as estratégias de um movimento internacional pós-Segunda Guerra Mundial, para enfrentar os resquícios das práticas de relações raciais promovidas pelos nazistas e pelo racismo científico. O órgão internacional buscou erradicar as visões de raça a partir de uma perspectiva biológica e hierárquica. No congresso, Nóbrega da Cunha, vice-diretor do Centro de Informação da ONU, colocou que a Carta das Nações Unidas “não reconhecia privilégios de raça, de cor e de religião”, sendo uma posição clara de como a instituição pensava como deveriam ser as relações raciais.
A escolha do projeto Unesco em tornar o Brasil seu laboratório, respaldou-se na crença de que o país era um bom exemplo de convivência pacífica, investindo assim, em pesquisas para compreender a suposta “convivência harmônica” entre as raças e como essa experiência poderia servir de modelo para os países que enfrentavam tensões raciais, como os Estados Unidos e a África do Sul. A presença da ONU permitiu que Guerreiro Ramos apresentasse um projeto à Unesco, no qual recomendava o desenvolvimento de um estudo sobre “os países onde há uma minoria racial discriminada”. Essa participação possibilitou que a Unesco tomasse conhecimento das pesquisas em desenvolvimento no Brasil sobre as questões raciais e estabelecesse contato com pesquisadores que comporiam a equipe do Projeto Unesco posteriormente, como Charles Wagley e Costa Pinto.
Nem tudo foi confluência. Os conflitos surgiram após a criação de uma declaração paralela, que era desconhecida pela maior parte dos congressistas, visando criar divisões internas e minar a credibilidade da declaração oficial. Essa declaração chamada de Declaração dos cientistas, que reforça um caráter científico e politicamente neutro, não estava de acordo com os propósitos finais de sugerir e criar ações de combate às desigualdades. Por esse motivo, congressistas como Abdias do Nascimento, Sebastião Rodrigues Alves e Guerreiro Ramos se posicionaram firmemente contra a sua inclusão, rejeitando-a completamente e destacando que apenas a declaração final representava o espírito científico do congresso. Guerreiro Ramos havia sinalizado que o congresso estava comprometido com a produção científica militante. Aqui temos um ponto de desencontro entre a Unesco e os principais organizadores do congresso, inviabilizando uma cooperação formal entre o projeto Unesco e as lideranças do congresso e seu promotor, o TEN. No entanto, precisamos lembrar que Edison Carneiro foi um dos colaboradores das pesquisas de Costa Pinto sobre o negro nas áreas urbanas do Rio de Janeiro, como disse o cientista político Marcos Chor Maio.
E as mulheres? Como participaram desse congresso dominado pela figura masculina? Mesmo excluídas das apresentações e da representação formal nas mesas do Congresso, as mulheres tiveram uma participação significativa ao longo do certame. O evento foi marcado pela presença da atriz Ruth de Souza, tendo participado da mesa da sessão de encerramento, Elza Soares Ribeiro, chefe do Departamento Trabalhista da Rádio Mauá e da seção de empregos do SESI, e pela advogada Guiomar Ferreira de Matos, ambas integrantes da Comissão de Preparação do Congresso no Distrito Federal (atual Rio de Janeiro). Guiomar Matos inscreveu a tese A Regulamentação da Profissão de Doméstica, que aparece na lista oficial de trabalhos recebidos pela Comissão Central, e apresentou a contribuição oral Sobre o trabalho doméstico durante as sessões de 1 de setembro de 1950. Rosa Gomes de Souza apresentou a tese Música negra, no dia 2 de setembro. Numericamente reduzidas, a participação feminina no congresso foi importante para introduzir temas relacionados ao trabalho, cultura e a existência social das mulheres negras.
Fontes primárias
I CONGRESSO DO NEGRO BRASILEIRO. Diario de Noticias, Rio de Janeiro, ano 21, n. 8.507, p. 3, 16 jul. 1950.
I CONGRESSO DO NEGRO BRASILEIRO. A Manhã, Rio de Janeiro, ano 10, n. 2786, p. 5, 26 set. 1950.
I CONGRESSO DO NEGRO. A Noite, Rio de Janeiro, ano 39, n. 13.578. p. 8 e 14, 5 set. 1950.
1.º CONGRESSO DO NEGRO BRASILEIRO. A Manhã, Rio de Janeiro, ano 10, n. 2784, p. 5, 24 ago. 1950.
DIVERGENCIA ENTRE OS LIDERES NEGROS. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, ano 2, n. 207, p. 1 e 6, 28 ago. 1950.
INSTALADO o 1.º Congresso do Negro Brasileiro. Diario de Noticias, Rio de Janeiro, ano 21, n. 8543, p. 1 e 2, 27 ago. 1950.
JEAN, Yvonne. Alguns aspectos do Primeiro Congresso do NEGRO BRASILEIRO. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, ano 50, n. 17635, p. 54, 10 set. 1950. (1º Caderno).
MANIFESTAÇÃO de desagravo à atriz negra Katherine Dunham. Jornal de Noticias, São Paulo, ano 5, n. 1295, p. 2, 14 jul. 1950.
NASCIMENTO, Abdias. O 1.° CONGRESSO DO NEGRO BRASILEIRO. Quilombo: Vida, Problemas e Aspirações do Negro, Rio de Janeiro, ano 2, n. 5, p. 1, jan. 1950.
O I Congresso do Negro Brasileiro. A Noite, Rio de Janeiro, ano 36, n. 13.547, p. 8 e 16, 25 jul. 1950.
PRIMEIRO Congresso do Negro Brasileiro. Jornal de Noticias, São Paulo, ano 5, n. 1265, p. 10, 9 jun. 1950.
RAMOS, Guerreiro. Notícia sôbre o I Congresso do Negro Brasileiro. Vida política, Rio de Janeiro, ano 10, p. 2, 1 out. 1950. (Suplemento de A Manhã).
RAMOS, Guerreiro. Senhores e escravos no Brasil. A Manhã, Rio de Janeiro, ano 10, n. 2835, p. 2 e 3, 22 out. 1950.
RAMOS, Guerreiro; CARNEIRO, Edison; NASCIMENTO, Abdias. 1° Congresso do Negro Brasileiro de 1949. Quilombo: Vida, Problemas e Aspirações do Negro, Rio de Janeiro, ano 1, n. 3, p. 5, jun. 1949.
Bibliografias
CHOR MAIO, Marcos. Modernidade e racismo Costa Pinto e o Projeto Unesco em relações raciais. In: SANSONE, Lívio; PEREIRA, Cláudio Luiz (org.). Projeto UNESCO no Brasil: textos críticos. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 11-24.
DOMINGUES, Petrônio. Os descendentes de africanos vão à luta em terra brasilis. Frente Negra Brasileira (1931-37) e Teatro Experimental do Negro (1944-68). Projeto História, São Paulo, v. 33, p. 1131-158, dez. 2006. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2288. Acesso em: 17 nov. 2025.
NASCIMENTO, Abdias. Uma reação contra o embranquecimento: O Teatro Experimental do Negro. In: NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016. p. 161-168.
NASCIMENTO, Abdias. O Negro Revoltado. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. Disponível em: https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/obras-de-abdias/o-negro-revoltado. Acesso em: 17 nov. 2025 .
OLIVEIRA, Maybel Sulamita de. A intelectualidade e o Teatro Experimental do Negro: Raça e Negritude em debate no 1° Congresso do Negro Brasileiro. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 29., 2017, Brasília. Anais eletrônicos […]. Brasília, DF: ANPUH, 2017. p. 1-13. Disponível em: https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1501675853_ARQUIVO_TextoMaybel.pdf. Acesso em: 17 nov. 2025.
PEREIRA, Cláudio Luiz. O Primeiro Congresso do Negro Brasileiro e a UNESCO. In: SANSONE, Lívio; PEREIRA, Cláudio Luiz (org.). Projeto UNESCO no Brasil: textos críticos. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 207-218.
THEODORO, Mário. Epílogo: O papel do ativismo negro, um contraponto necessário. In: THEODORO, Mário. A sociedade desigual: Racismo e branquitude na formação do Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2022. p. 363-377.
OLIVEIRA, Anderson Douglas Dias de; SANTANA, Geferson. Um congresso para o povo negro. História Editorial, 19 nov. 2025. (Artigo de divulgação). Disponível em: https://historiaeditorial.com.br/um-congresso-para-o-povo-negro. Acesso em: 19 nov. 2025.

Estudante do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Suas áreas de interesse incluem Ensino de História, História da Arte, Gênero e Sexualidade e História Contemporânea. É bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), desde 2023.
*Artigo de divulgação escrito em coautoria e sob a supervisão do Prof. Dr. Geferson Santana. Este material é resultado da pesquisa que resultou num banco de dados sobre o I Congresso do Negro Brasileiro, desenvolvida no âmbito do laboratório História Editorial e como parte das atividades do Programa Editor Aprendiz.
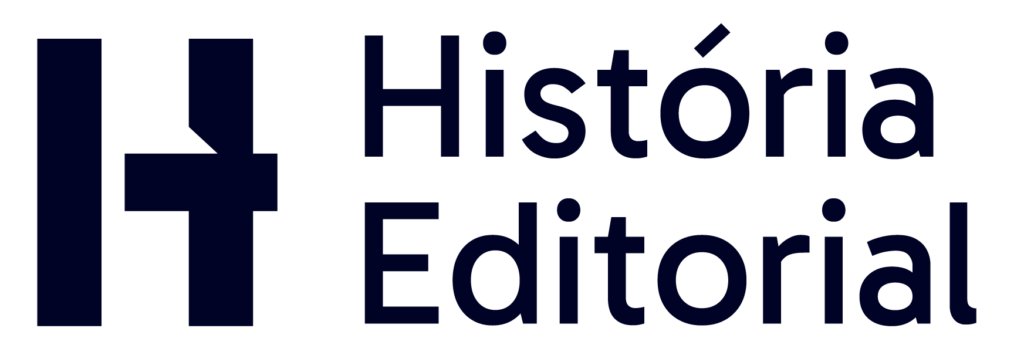
© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.
Respostas de 2
Trabalho excelente 👏 👏 👏
Obrigado, Patrick. Seja bem-vindo!