ARTIGO |
No início do século XX, as lutas das mulheres negras no Recôncavo Baiano contra os modelos de exploração e de controle adotados nas empresas fumageiras foram marcadas por diferentes ações e estratégias, incluindo, entre elas, o combate a partir das ideias comunistas.

No início do século XX, o Recôncavo Baiano destacou-se como a maior região produtora de charutos e cigarrilhas do Brasil. Centenas de mulheres negras impulsionaram essa produção com sua força de trabalho em atividades manuais para a confecção de charutos em manufaturas da região. Nesse sistema produtivo fragmentado, o trabalho das mulheres negras era rigidamente supervisionado por mestres e contramestres, visando disciplinar, controlar e garantir a diligência da produção. O modelo de organização racializou as trabalhadoras e colocou-as em lugares subalternizados de gênero. Estas foram algumas das estratégias patronais para reproduzir opressões sociais em tecnologias de dominação[1] e controle do trabalho para intensificar a extração de mais valor e o aumento de seus lucros. As operárias resistiram, apesar das artimanhas dos empregadores. Criaram estratégias para controlar os processos de trabalho e lutar contra a exploração patronal. Essas lutas foram protagonizadas no cotidiano das empresas; e outras eclodiram nas ruas, em manifestações abertas contra o patronato.
As trabalhadoras fumageiras enfrentaram diferentes desafios nas lutas operárias. Suas primeiras organizações sindicais, formadas nos movimentos operários da Greve Geral de 1919, haviam se consolidado em Cachoeira, Muritiba e São Félix, cidades da região do Recôncavo. Este primeiro círculo de lutas parece ter chegado ao limite em 1921, junto ao refluxo do movimento operário na Bahia. A fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB), em 1922, foi um marco na luta das trabalhadoras fumageiras. O historiador Marcelo Lins localizou as primeiras filiações saídas da região do Recôncavo Baiano. O partido tinha a expectativa de organizar células de um Comitê de Zona nas cidades supracitadas. Chamava a atenção o número expressivo de trabalhadoras e trabalhadores nas empresas de charutos e armazéns de beneficiamento de fumo e nas atividades portuárias no rio Paraguaçu, que transformou a região num importante núcleo de propaganda do jornal comunista A Classe Operária, a principal tribuna das reivindicações das operárias das manufaturas de charutos.

O PCB via o sindicalismo como forte expressão da luta de classes e como território privilegiado de disputa. O quadro de militantes do PCB se inseriu nos sindicatos, como a Sociedade União de Defesa Operária de Muritiba e a Sociedade de Resistência Protetora dos Operários de São Félix, nas quais Amaro Pedro da Silva e Manoel Antônio da Conceição eram, respectivamente, presidente e secretário. A Classe Operária chegou a comemorar o entusiasmo e aumento gradativo dos militantes na Bahia. O aparente crescimento dos filiados correspondia a um pequeno número de militantes em relação ao quadro nacional do PCB. As atividades do partido, no estado, estavam concentradas no Recôncavo até, pelo menos, os anos 1930, como disse Marcelo Lins.
As fumageiras parecem ter visto na militância comunista um ponto de apoio em suas lutas contra a exploração. Em maio de 1925, “as operárias charuteiras da Bahia apelaram para” A Classe Operária, apresentando pautas que denunciavam o baixo salário e a apropriação indevida de parte da produção pelo patronato: “estes Srs. ficam diariamente com 1.200 charutos grátis. São, portanto, no fim do ano, 360 mil charutos grátis. Deixamos a mais dois dias de trabalho. Estes dois dias só são recebidos de seis em seis meses”.
Outros problemas enfrentados foram os limites impostos pelos patrões à gestão operária por meio do desconto direto dos charutos produzidos e do controle da matéria-prima fornecida diariamente para o trabalho. As operárias também denunciaram a centralidade do trabalho manual e as duras condições de trabalho, como aprofundaram a crítica às consequências da exploração sobre as mulheres. “Somos empreiteiras. Ganhamos pelo que fazemos. […] As companheiras grávidas continuam a sentar-se nos mesmos tamboretes de pau tosco. Os que, nas grandes cidades, nas casas elegantes, fumam os charutos de S. Félix, mal sabem a exploração inominável a que vivemos submetidas”.
As falas das operárias permitem perceber as formas de extração de mais valor e o vigor da atuação das fumageiras na centralidade da experiência de classe das mulheres negras. As lutas práticas das operárias encontravam resistências do patronato para minar o domínio dos processos de trabalho. A luta de classes no chão das manufaturas demonstrou que o patronato encontrava limites na exploração, colocados pelas vontades das operárias. Contudo, o conflito nas relações entre capital e trabalho parece que não ficou restrito ao ambiente fabril. O patronato mirava a vida das operárias fora das empresas. As trabalhadoras fizeram reivindicações políticas, como “9ª – Direito de livre associação; 10ª – Não sermos despedidas quando comemoramos o primeiro de maio. Tais são as nossas aspirações imediatas”, o que sugerem que as operárias buscavam a ampliação da autonomia política e de classe.

As tensões que envolviam patrões e operárias distinguem outra arena da luta de classes. Em 1925, a posse da nova direção sindical ocorreu na celebração do Primeiro de Maio, demonstrando o caráter emblemático desse conflito. Há o registro de que “uma grande massa operária” se dirigiu à Muritiba e São Félix para “empossar a nova diretoria” da Sociedade de Resistência Protetora dos Operários. O “comércio fechou as portas”. O “burguês Antônio Correia” e a empresa de charutos Costa Penna & Cia ignoraram o feriado nacional e exigiram que o proletariado “fosse trabalhar pelos insignificantes 15$ semanais; caso contrário, seriam despedidos”. Diante da reação patronal, A Classe Operária ironizou: “ora, um pau da prensa arrombou as ventas de um dos operários, demonstrando assim esse pau ter mais consciência de seus direitos de pau trabalhador do que os companheiros escravos do burguês Antônio Correia”. A celebração deveria ser uma expressão da “consciência de seus direitos”, como era reconhecida pelo patronato fumageiro. A escolha da ocasião para a posse do sindicato pretendia conectar a formação sindical com as lutas históricas da classe trabalhadora. O aviso foi dado aos patrões!
Numa conjuntura nacional de combate ao movimento operário e ao comunismo, as consequências políticas da organização sindical foram rapidamente sentidas pelo patronato, que respondeu com perseguições violentas. A atuação policial foi central para coagir o movimento, como ficou registrado pela Classe Operária:
Nós, ex-trabalhadores do núcleo colonial Rui Barbosa (nome fatídico para os trabalhadores), vimos contar a exploração de que temos sido vítimas. Nosso salário era de 2$500, recebido por meio de vale, com 20% de desconto no armazém obrigatório. […] Tendo conhecimento disto, o chefe do núcleo preparou outro papel e queria que assinássemos sem ler. Recusamos. Fomos despedidos. Estando em nossos lares, fomos presos pelo chefe, à frente de [vários] soldados que, de armas em [punho] nos escoltaram. Curioso: nós que reclamávamos um direito concedido por lei, éramos presos ilegalmente pelos agentes da legalidade. O próprio burguês é o primeiro a desrespeitar suas leis… […] O mais perseguido foi o companheiro Rufino Gonçalves só pelo fato de explicar-nos os direitos que nos assistem.
Rufino Gonçalves foi o primeiro secretário da Sociedade União de Defesa Operária de Muritiba, e, talvez, a posição do militante tenha motivado a perseguição patronal. Na retórica publicada pelo jornal, a lei não escapou do horizonte dos trabalhadores, que a utilizam para contornar a agressividade da polícia a pedido dos patrões. Apontam como o patronato fere todos os princípios instituídos e manipula o Estado para criminalizar a luta que acreditava ser justa. Na Bahia do pós-abolição[2], os operários lembraram, com pesar, do nome Rui Barbosa e não deixaram de usar a memória da escravidão para atacar as péssimas condições de trabalho a que eram submetidos e como eram “entregues a feitores”. Nesse ponto, a experiência negra nos mundos do trabalho da escravidão faz perceber as continuidades entre as experiências do trabalho no cativeiro escravista e o trabalho intensivo do início do século XX. Esta era a leitura do proletariado. Por outro lado, a organização sindical era lida como uma ameaça direta aos interesses patronais.
No ano seguinte, a criminalização das lutas operárias e o combate anticomunista do patronato mantiveram sua vitalidade. No dia 27 de janeiro de 1926, o jornal Correio da Manhã anunciava que “graças às prontas e enérgicas providências do Dr. Madureira Pinho, chefe de polícia, fracassou a greve promovida por elementos que pretendiam explorar milhares de operários das fábricas de charutos de S. Félix e Cachoeira”. O jornal Diário da Manhã reutilizou o mesmo texto, acrescentando “o movimento comunista na Bahia”, no qual denunciou os “elementos comunistas” como protagonistas do movimento paredista. Outro periódico, A Província, foi mais informativo e indicou que “O ‘Diário de Notícias’ [da Bahia] publica telegramas de S. Félix e Cachoeira, dizendo encontrarem-se em greve os operários das grandes fábricas de charutos ali localizadas”. Ainda, o jornal a Província atestava que “foi descoberto um ‘comitê’ comunista que dirigia o movimento”.
As ações do operariado estavam sob a vigilância reforçada do Centro Industrial do Fumo de São Félix. O correspondente d’O Paiz, conhecido jornal do comércio do Rio de Janeiro, anunciava a intervenção do Centro na convocação das forças policiais para combater o “Comitê do Partido Comunista” em Cachoeira, Muritiba e São Félix. O Centro buscou garantir o trabalho daqueles que não aderiram à greve nos armazéns e empresas de charutos. E acusou que “daquela feita chegou a haver agressões pessoais e um ataque seguido de depredações à fábrica Suerdieck, atacada até com bomba de dinamite!”.
O discurso patronal admitiu a existência de um comitê do PCB e sua atuação nas campanhas e nas lutas operárias, como expôs a ação das forças policiais, mas foi desmentido pelos militantes comunistas. N’O Solidário, um jornal comunista de Santos (SP) que circulou entre as operárias, os comunistas publicaram que “os companheiros de S. Félix, Cachoeira e Muritiba, usando de um direito que lhes assiste, distribuíram um manifesto protestando contra o rebaixamento dos salários e mostrando a necessidade de organização”. Acusaram a imprensa e os patrões de aproveitarem as manifestações para “inventar uma greve geral, enviar um ofício ao chefe de polícia e causar um reboliço dos diabos”. O chefe de polícia chegou a mobilizar uma numerosa tropa para impedir a tal greve geral, que, no final das contas, “encontrou tudo na maior paz”, disse o jornal.
O jornal rebateu e ironizou a preocupação do patronato em mobilizar os agentes policiais. Mas não podemos subestimar as forças sociais envolvidas. O presidente do Centro Industrial do Fumo de São Félix era Luiz Penna, sócio da casa Costa Penna & Cia, e o secretário era Ernesto Tobler, diretor da Cia. de Charutos Dannemann. Tobler, Armando Pimentel e Reinaldo Simas – estes últimos proprietários de importantes armazéns de beneficiamento de fumo – foram denunciados pela imprensa operária. Consta na publicação que eles queriam escravizar o operariado. A resposta enérgica dos industriais, perante a circulação deste boletim, teve consequências sérias para o movimento. Em Muritiba, Rufino Gonçalves, José Alves Sanches e Anselmo Miguel Arcanjo tiveram que se apresentar ao delegado regional da Intendência da cidade, que os tratou como agitadores e ameaçou-os de deportação. Um político de São Félix ameaçou os comunistas com prisão, caso criassem um comitê do PCB. Os comunistas, ironicamente, informaram pel’O Solidário que não avisavam aos inimigos sobre a criação de uma célula do partido.
Os trapicheiros dos armazéns passaram a exigir a invasão da associação de São Félix. As violências sofridas pelos trabalhadores resultaram no assassinato de Gabriel Alves de Souza, vice-presidente da Sociedade de S. Félix, no dia 3 de março de 1926, como consequência da surra que recebeu de quatro soldados sob as ordens do delegado Landolpho Fraga. Os comunistas avisaram que “diante deste crime monstruoso, responsabilizamos este o sr. Reinaldo Simas por tudo quanto suceder aos nossos companheiros de S. Félix, Cachoeira e Muritiba”.
O Solidário, meses depois, lembrou que o manifesto que provocou as ações do Centro Industrial do Fumo tinha, supostamente, demonstrado a situação de prosperidade e riqueza do patronato, o que justificava o pagamento de melhores salários. A mando dos industriais, a polícia perseguiu e ameaçou expulsar os trabalhadores. A Costa Penna & Cia, não satisfeita, promoveu uma “revanche”, despediu diversos funcionários ativos na organização da classe operária. É possível que o manifesto tenha apresentado um programa de pautas pela melhoria dos salários. Essas experiências de luta foram demarcadas pela atuação da polícia para intervir nos conflitos, desorganizando os movimentos e os sindicatos, chegando a violentar e assassinar um trabalhador. As lutas operárias, organizadas em torno do movimento comunista, colocaram desafios específicos para o patronato, que recorreu às forças extraeconômicas para a produção e reprodução do capitalismo, demonstrando que a violência é um elemento central das relações capitalistas.
Mesmo que os movimentos comunista e sindical tenham fortalecido as lutas das operárias, hierarquias de gênero e os projetos hegemônicos de feminilidades e masculinidades foram reproduzidos e constituíram-se também outros desafios às trabalhadoras. As estratégias de luta das operárias negras foram, muitas vezes, ignoradas pelos operários e pelo próprio PCB, o que impôs certos limites à classe trabalhadora. O Solidário, neste mesmo ano, publicou uma denúncia dos trabalhadores do Recôncavo Baiano, que relataram as formas de exploração nas manufaturas de charutos:
No Brasil, a situação do operariado é ainda a dos escravos da idade média. As infelizes mulheres que são forçadas a ir ali ganhar uns miseráveis mil réis, tem que aturar todos os desaforos desse fiel lacaio de Costa Penna. Por insignificâncias, pega pelo braço as pobres mulheres e joga-as à rua, conforme fez com a operária Balbina Moraes, só porque ela protestou contra o ato brutal desse “Urso Branco”, que queria lançar pelas escadas abaixo um infeliz menor operário. […] Podem continuar a maltratar as operárias de Cachoeira, miseráveis, desrespeitam as pobres viúvas, as indefesas mocinhas, as miseráveis mulheres casadas, e os inocentes menores, que não tardarão os trabalhadores do Brasil, unidos aos trabalhadores do mundo a dar-vos a merecida lição.

A vigilância violenta do trabalho das operárias deu o tom das denúncias da militância fumageira. Imperava “o regime do relho[3] e do revólver”, semelhante aos tempos da escravidão e às práticas dos castigos físicos. Contudo, a luta de classes destacada na impressa comunista era tomada como uma tarefa militante, masculinizada e autoproclamada como vanguarda revolucionária. Mas a atitude da operária Balbina Moraes merece atenção. Ela não era uma das “indefesas mocinhas” que as lideranças desejavam proteger. Suas estratégias de enfrentamento, na luta prática contra os representantes dos patrões no cotidiano fabril foram escamoteadas nesse discurso d’O Solidário. O não reconhecimento dessas lutas provavelmente embaçou a visão dos comunistas.
Um artigo publicado n’A Classe Operária levantou algumas dificuldades dos militantes comunistas para se organizarem no Recôncavo Baiano. “A maioria dos operários não sabe ler. Nas fábricas a maioria é de mulheres e crianças. Convidamos as moças operárias a vir à associação. Elas não vêm porque se o patrão souber serão despedidas”, disse o articulista. Seus argumentos, indicando as perseguições ou a suposta baixa instrução das operárias, não podem explicar o afastamento das trabalhadoras do sindicato. As lideranças sindicais subestimaram os interesses políticos das operárias, buscando reduzir a organização às interpretações limitadas dos militantes do sindicato ou do partido.
Francisca Flora de Matos, por exemplo, trabalhadora da Cia. de Charutos Dannemann, ocupou a secretaria da Sociedade de Resistência Protetora dos Operários de São Félix. Sua atuação contestava os estereótipos de passividade e a ausência de mulheres na associação sindical. A militante deixou indícios de que as razões por trás das dificuldades do sindicato residiam na divisão da massa operária entre a influência dos comunistas e de outras tendências socialistas. A pluralidade ideológica entre as fumageiras estabeleceram alguns distanciamentos entre as operárias e o sindicato, esvaziando os argumentos da baixa instrução ou da presença majoritária de mulheres e crianças.
Francisca atacou as tendências reformistas do movimento e defendeu sua posição entre os comunistas. “Sim, dizem que mulher é parte fraca, mas quando no meio delas surge uma espirituosa é um caso sério”, disse a operária. Este era um dos constrangimentos que mulheres como Francisca poderiam impor à vontade dos homens dos sindicatos. Mesmo que Francisca tenha sugerido com um tom de excepcionalidade, lançar um contradiscurso às noções que dominavam o imaginário operário, refazendo ao seu próprio modo a sua feminilidade, foi uma demanda importante para a operária.
O Solidário traz elementos que permitem relativizar a ausência de mulheres nos sindicatos. “A sociedade União de Defesa Operária içou seu pavilhão rubro-negro, na alvorada, e à noite houve sessão solene, na qual se apresentou a companheira Francisca Flora Mattos, secretária da Sociedade de São Félix, com um número avultado de outras operárias, que propositalmente vieram abrilhantar o ato”, disse contraditoriamente o jornal. A agência das mulheres negras fez bem mais que “abrilhantar” a organização sindical, pois sua força política e participação aparecem nas pautas e reivindicações dos levantes, muitas vezes ofuscadas pelos articulistas nos periódicos. Como se observou elas foram ativas nas greves e paralisações, reivindicações e nas ocorrências do enfrentamento às opressões do cotidiano. Isto desmonta a ideia de que as agências coletivas das trabalhadoras estavam somente submetidas aos limites colocados pelo movimento operário masculino. Além disso, as operárias impuseram uma mobilização significativa em relação às expressões de gênero no âmbito do movimento operário.
Assim, embora o movimento tenha atuado de maneira pujante até a década de 1930, enfrentando os desafios das conjunturas históricas que atravessaram o Brasil, e também o Recôncavo, como a “Revolução de 1930” e a entrada do PCB na ilegalidade, o espectro do comunismo continuou a rondar as operárias negras do vale do fumo. Dessa forma, os conflitos entre capital e trabalho não cessaram, e as trabalhadoras prosseguiram sujeitas no “fazer-se” da história, deixando um legado de lutas contra a exploração.
Notas
[1] A compreensão das tecnologias de dominação passa pela ideia de que os eixos de opressão, como o racismo e o sexismo, são articulados e manipulados como técnicas para o aumento da produção capitalista.
[2] Estamos considerando o período após a abolição da escravidão, que apresenta novos desafios para a população negra ao enfrentar os dispositivos de controle social em um novo cenário de marginalização e de submissão aos regimes de trabalho.
[3] Chicote de couro usado como instrumento de agressão e violência contra a população negra no período da escravidão brasileira.
Fontes
A Classe Operária, Rio de Janeiro, ano 1, n. 5, p. 1, 30 maio 1925.
A Classe Operária, Rio de Janeiro, ano 1, n. 9, p. 2, 27 jun. 1925.
A Classe Operária, Rio de Janeiro, ano 1, n. 10, p. 2, 4 jul. 1925.
A Classe Operária, Rio de Janeiro, ano 1, n. 10, p. 4, 4 jul. 1925.
A Província, Recife, ano 55, n. 22, p. 4, 27 jan. 1926.
Correio da Manhã, Rio de Janeiro, ano 25, n. 9 512, p. 5, 27 jan. 1926.
Diário da Manhã, Vitória, ano 20, n. 137, p. 4, 28 jan. 1926.
O Paiz, Rio de Janeiro, ano 42, n. 15 085, p. 17, 7 fev. 1926.
O Solidário, Santos, ano 2, n. 43, p. 2, 1 maio 1926.
O Solidário, Santos, ano 3, n. 42, p. 1, 5 abr. 1926.
O Solidário, Santos, ano 3, n. 44, p. 4, 13 maio 1926.
O Solidário, Santos, ano 3, n. 45, p. 4, 27 jun. 1926.
Bibliografia
BRAGA, Carlos Augusto Santos Neri. Operárias negras: lutas e controle patronal na Cia. Charutos Dannemann e na Costa Penna & Cia. (1910-1950). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021.
LINS, Marcelo da Silva. Notas sobre as primeiras movimentações comunistas na Bahia e na região cacaueira. In: SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias. Capítulos de história dos comunistas no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2016.
BRAGA, Carlos Augusto S. N. O comunismo das operárias negras do Recôncavo fumageiro (Bahia, década de 1920). História Editorial, v. 1, n. 1, 16 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14501630. Disponível em: https://encurtador.com.br/cTsqf. Acesso em: 16 dez. 2024.

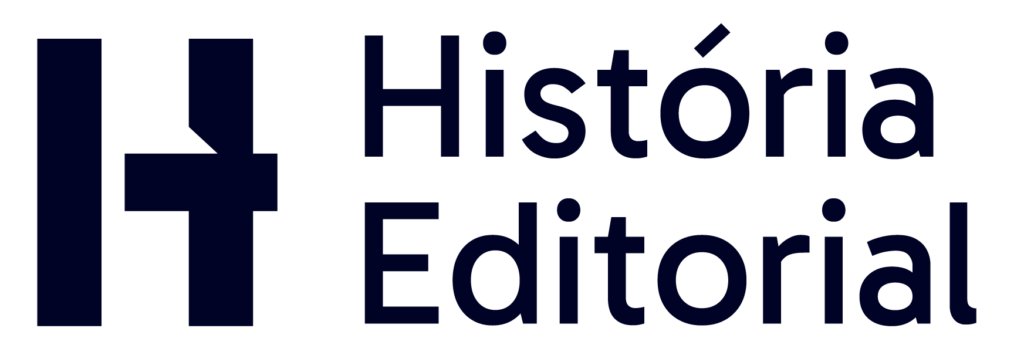
© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.
Respostas de 4
Gostei bastante da matéria. Parabéns pelo texto! Também estendo as felicitações ao História Editorial pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e pelo compromisso com a edição e a divulgação científicas.
Obrigado, Tatiane. Você foi importante na revisão desse texto! Gratidão!!
Obrigada por todas essas informações.🙏🏻
Obrigado, Ami. Continue acompanhando nosso trabalho. Seja bem-vindx!