ENTREVISTA |
O historiador Petrônio Domingues, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e referência nacional nos estudos sobre trajetórias negras e questões raciais no Brasil republicano, é o primeiro convidado da seção “Entrevista” do História Editorial.
Atualizado em: 3 ago. 2025.

O historiador Petrônio Domingues, professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), é referência nacional nos estudos sobre o pós-abolição, relações raciais e a trajetória da população negra no Brasil republicano. Com formação acadêmica consolidada pela Universidade de São Paulo (USP), onde concluiu graduação, mestrado e doutorado, também realizou pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Rutgers – The State University of New Jersey (EUA), na qual também fez um estágio de pós-doutorado. Desde 2006, leciona na UFS, onde atua nos Programas de Pós-Graduação em História e Sociologia. Tem uma produção historiográfica extensa, na qual incluem-se mais de cem artigos, publicados em diversas revistas científicas nacionais e internacionais, e obras como Uma história não contada (2004), A insurgência de ébano (2007) e Protagonismo negro em São Paulo (2019), esta última finalista do Prêmio Jabuti em 2020.
Nessa entrevista, Domingues revisita sua trajetória intelectual e política, destacando o papel formativo do Núcleo de Consciência Negra da USP e sua militância em torno da defesa de políticas reparatórias e ações afirmativas. Domingues relata como esse engajamento orientou seu interesse pelas experiências negras no pós-abolição, tema negligenciado por uma historiografia que, por muito tempo, limitou a presença negra ao período do cativeiro. Sua investigação se propôs, desde então, a compreender, por exemplo, como a população negra enfrentou as exclusões da cidadania, reconfigurou códigos de sociabilidade e reinventou formas de liberdade após 1888.
O professor Petrônio Domingues faz uma análise crítica da implementação da Lei nº 10.639/2003, examinando os avanços institucionais e os entraves estruturais que ainda limitam sua aplicação plena na educação básica, sustentando que o enfrentamento ao racismo na educação não se resolve apenas com a promulgação de leis, mas exige o investimento sistemático em formação docente, revisão dos materiais didáticos e reorientação curricular, este ainda bem eurocêntrico. Defende, ainda, o papel das universidades públicas na ruptura com paradigmas eurocentrados e na valorização de epistemologias decoloniais.
A partir de uma leitura sofisticada e articulada com as discussões renovadas em torno desses eixos temáticos, aponta para a centralidade da educação na disputa pela memória, cidadania e justiça racial no Brasil. A entrevista reafirma o papel público do historiador, comprometido com a produção de conhecimento crítico e com o fortalecimento de práticas pedagógicas antirracistas. Ao mesmo tempo em que documenta uma trajetória individual marcada por prêmios e reconhecimentos, como o Título de Cidadão Sergipano, concedido em 2022, o texto também oferece uma contribuição coletiva à compreensão dos dilemas e possibilidades do ensino de história e cultura afro-brasileiras na contemporaneidade.
Eu ingressei no curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP), em 1992. A universidade representou um divisor de águas na minha formação intelectual e política. Já no primeiro semestre da graduação, enfronhei-me no movimento estudantil, participando do Centro Acadêmico do curso. Participei, naquele ano, do Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Niterói (RJ), e ingressei na Convergência Socialista, uma corrente política marxista, de orientação trotskista. A Convergência Socialista se organizava como tendência interna do Partido dos Trabalhadores (PT), mas foi expulsa desta agremiação partidária. Após sua saída, junto com outros setores marxistas e descontentes com a linha reformista do PT, fundaram o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).
No segundo ano da graduação, eu me decepcionei com o curso de Ciências Sociais e resolvi abandoná-lo. Prestei um novo vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST), por meio do qual ingressei no curso de História, na mesma instituição. E foi, a partir dali, que eu comecei a participar do Núcleo de Consciência Negra (NCN), na USP. Ao longo de minha participação no NCN, eu fiz parte da coordenação executiva da entidade, e, na sequência, assumi o cargo de coordenador do curso pré-vestibular do NCN, voltado a atender à população negra e carente. Na grade curricular do curso, mantínhamos a disciplina Cidadania e Consciência Negra, um espaço aberto ao público, no qual promovíamos palestras com intelectuais do movimento negro ou professores da USP, que debatiam questões raciais e sociais de um modo geral.
No último ano da minha graduação, eu cursei a disciplina optativa Aspectos da Cultura Negra, ministrada por Wilson do Nascimento Barbosa, o único professor assumidamente negro do Departamento de História da USP. E me parece que foi durante aquela disciplina que eu me interessei pela temática da população negra no período pós-Abolição. É que do ponto de vista da pesquisa, naquela época, os historiadores apreendiam o negro como sinônimo de escravo (ainda não se utilizava a locução escravizado), de modo que a história das experiências e vivências específicas desse segmento populacional ficava circunscrita ao período do cativeiro. Para o período imediatamente posterior à Abolição, em 13 de maio de 1888, observava-se um fato curioso: os ex-escravos, libertos e seus descendentes desapareciam das narrativas historiográficas.
Ora, mas qual foi a trajetória dos ex-escravos, dos libertos e da população negra no geral a partir da supressão do cativeiro? E o que ocorreu com os seus descendentes – denominados muitas vezes de “pessoas de cor”? As experiências acumuladas durante a escravidão foram apagadas da memória ou reelaboradas e projetadas dinamicamente no pós-Abolição? Assim, perguntava-me na época: como as populações negras inventaram e reinventaram a liberdade, batalharam por empoderamento, mesmo operando num regime de cidadania limitada? Quais os significados que elas conferiram às suas ações no campo político, social, cultural e econômico? Como se apropriaram dos códigos de sociabilidade vigentes e procuraram deles tirar vantagens ou atribuir-lhes novos sentidos? Qual a lógica interna de múltiplos e diferentes estilos de vida baseados numa margem de autonomia e autodeterminação?
Eram muitas as perguntas e poucas as respostas. Verificava que existia um hiato. A meu juízo, mapear, reconstituir e entender as experiências negras no período posterior à escravidão era o principal desafio da historiografia brasileira, no geral, e da história afro-brasileira, no particular, daí o meu interesse de se especializar nesse campo temático, que foi batizado de “Pós-Abolição”. Hoje, avaliando em retrospectiva, percebo que esse meu interesse também se devia ao meu engajamento no NCN, que, já naquela época, defendia políticas reparatórias, ações afirmativas e cotas para negros. Aliás, chegamos até a criar um Comitê Pró-Cotas no NCN.
Em 1998, ingressei no mestrado no Programa de Pós-Graduação em História Econômica (PPGHE) da USP, sob a orientação justamente de Wilson Barbosa, mais conhecido como Wilsão entre os seus orientandos e amigos. Em 2001, eu defendi minha pesquisa de mestrado, que depois foi publicada sob o título Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo no pós-abolição. Naquele mesmo ano, eu ingressei no doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS), sob a orientação de Leila Leite Hernandez, a primeira africanista do Departamento de História da USP. Em 2005, defendi minha tese, intitulada A insurgência de ébano: a história da Frente Negra Brasileira (1931-1937). A partir dali, minha agenda de pesquisa continuou voltada à história das experiências negras no Brasil, focalizando especialmente o campo do Pós-Abolição.
Por outro lado, as motivações de minhas pesquisas se relacionam ao contexto. Foi no limiar do terceiro milênio que se instalou no Brasil o debate público sobre as políticas das ações afirmativas. Verificou-se que os negros, em escala crescente, tornaram-se sujeitos de direitos, o que levou o país a entabular uma inédita cartografia político-institucional, de reconhecimento do racismo como um problema nacional. Políticas públicas foram implementadas em favor da população afro-brasileira, das quais se destacaram os programas de cotas raciais nas universidades públicas. Do ponto de vista acadêmico, houve um aumento do interesse pelos estudos sobre raça, racismo e antirracismo.
Já se disse que um tema de pesquisa histórica deve ser relevante não apenas para o próprio pesquisador, como também para as pessoas (homens e mulheres) de seu tempo – estas que no limite serão potencialmente os leitores ou beneficiários do trabalho empreendido. Daí aquela célebre assertiva de que o historiador escreve a partir dos olhares possíveis em sua época, e inexoravelmente escreve não só sobre aquilo que ele considera relevante, mas também sobre aquilo que tem relevância para os seus contemporâneos. Nesse sentido, minhas escolhas temáticas sempre buscaram estar em sintonia com a agenda nacional, na medida em que minhas pesquisas procuram contribuir para responder ao nítido aumento de interesse, por parte de setores do Estado e da sociedade civil brasileira, em se discutir temas ligados ao multiculturalismo, à diversidade étnico-racial e à história da população negra.
Acompanhei essas discussões nos anos 2000 e até já escrevi um artigo a respeito[1]. Vou sintetizar o que eu argumento nesse artigo intitulado O recinto sagrado: educação e antirracismo no Brasil. O MNU, fundado em 1978, representou um novo momento na história do protesto afro-brasileiro, sendo que uma de suas preocupações era intervir na esfera educacional.
Já no seu “Programa de ação”, o MNU preconizava uma educação voltada para os valores e interesses do “povo negro e de todos os oprimidos” e se posicionava: “Contra a discriminação racial nas escolas, por melhores condições de ensino aos negros; Pela reavaliação do papel do negro na História do Brasil; Pela participação dos negros na elaboração dos currículos escolares em todos os níveis e órgãos culturais; Pela inclusão da disciplina História da África nos currículos escolares; Por mais vagas nas escolas públicas municipais, estaduais e federais; Por mais bolsas de estudo; Pela criação de escolas técnicas municipais profissionalizantes; Pelo ensino público e gratuito em todos os níveis”.
Contudo, a principal bandeira educacional desfraldada pelo MNU – e pelo conjunto do movimento negro brasileiro nessa fase – foi a da inclusão de conteúdos programáticos referentes à História da África e à cultura afro-brasileira nos currículos das escolas. Além da introdução de disciplinas fundamentadas na história e na cultura do negro nos currículos escolares, grupos do movimento negro passaram a reivindicar do governo cursos para a qualificação de professores na prática de ensino multirracial e poliétnica, e uma revisão dos livros didáticos, a fim de eliminar deles a veiculação de ideias e imagens negativas sobre o negro.
Na década de 1990, o MNU entrou em crise e perdeu força política. Simultaneamente, surgiram múltiplas organizações negras espalhadas pelo país, que se especializaram, acentuando a tendência de incidir em frentes específicas. Apareceram organizações negras com caráter eminentemente educacional, como a Associação Afro-Brasileira de Educação Cultural e Preservação da Vida (1990), em São Paulo (SP); a Cooperativa Steve Biko (1992), em Salvador (BA); o Educafro (1993), no Rio de Janeiro (RJ).
A partir dali, as atenções do movimento negro, em escala crescente, foram canalizadas para o debate em torno das ações afirmativas, sobretudo na sua versão mais polêmica, o programa de cotas para negros nas universidades públicas. No entanto, o fato de maior impacto no sistema de ensino referente à temática do “negro e educação”, no início do terceiro milênio, foi a sanção por parte do Presidente da República da Lei n° 10.639, em 9 de janeiro de 2003, instituindo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Em 10 de março de 2004, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas.
Trata-se de medida inédita nos domínios da legislação federal. É verdade que a questão racial foi abordada durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, entre 1987 e 1988. Surgiu até um anteprojeto que enfatizava o papel central da educação, bem como o da escola como instituição que deveria valorizar a diversidade, combater o racismo e todas as formas de discriminação, mas o documento final da Constituição Federal de 1988 não acolheu a proposta de obrigatoriedade do estudo da cultura e História da África dos currículos nos três níveis de ensino. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada pelo Congresso Nacional em 1996, não conferiu qualquer tratamento específico à temática racial. Portanto, a Lei n° 10.639 significou um avanço, e mesmo um divisor de águas ante a tradição homogeneizadora e monocultural das diretrizes do sistema de ensino.
Uma exceção a essa tradição homogeneizadora das diretrizes educacionais foi o aparecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997. Distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC), os PCNs traziam em um dos dez volumes a pluralidade cultural como tema transversal. Se não contemplou plenamente as expectativas de algumas lideranças do movimento negro, para as quais as complexas e multifacetadas questões étnico-raciais não deveriam aparecer – isso quando apareciam – tão somente de forma transversal no trabalho pedagógico, representou mais um passo no contexto educacional que contribuiu para culminar na elaboração da Lei n° 10.639.
Fato é que a batalha em prol de uma educação multicultural é histórica: remonta à fase primeva do MNU, quando seus ativistas reclamavam da introdução dos estudos africanos nos currículos escolares, assim como duma reavaliação do papel do negro na História do Brasil, e, em uníssono, denunciavam o racismo no sistema de ensino, por meio da crítica ao livro didático, ao currículo e à formação dos professores. Depois de décadas de ativismo e acúmulo de forças político-institucionais, o movimento negro conseguiu que o Estado brasileiro atendesse a uma de suas reivindicações precípuas na esfera educacional.
O grande desafio colocado é como mudar esse cenário. Não é simples pensar o “como fazer” quando a questão envolve décadas de desconhecimento e distanciamento intelectual, sem contar a diversidade do corpo docente das redes públicas e privadas, em suas diferentes regiões e realidades educacionais brasileiras. Evidentemente, não existe fórmula mágica, com efeito qualquer projeto de mudança no ensino com a perspectiva de incorporar a história da população negra e da cultura afro-brasileiras tem que abranger a adoção de políticas públicas. Nesse sentido, é um marco a coalizão de esforços em torno da Lei n° 10.639, que instituiu a obrigatoriedade, em todas as escolas do país, do ensino de história da África e da história e cultura afro-brasileiras, e, mais tarde, em 2008, a promulgação da Lei n° 11.645, que acrescentou a essa obrigatoriedade o ensino de história e cultura indígenas.
Os gestores públicos, finalmente, perceberam que não basta ter boa vontade. É de fundamental importância o Estado intervir na estrutura educacional brasileira a fim de torná-la mais democrática e multicultural. Leis mobilizam as agências e os agentes responsáveis para sua efetivação. Contudo, o “simples” decreto não descarta a necessidade da criação dos meios que viabilizem o ensino que se pretende pôr em prática. É sabido que, no Brasil, algumas normativas legais vingam e outras não. Afirmo isto porque a Lei n° 10.639, embora sofra resistência por parte de alguns segmentos, vingou, nos limites do possível, num campo de disputas em torno de projetos educacionais.
Os caminhos percorridos até aqui têm sido diversos e desiguais (no tempo, no ritmo e na dimensão). Contudo, os especialistas confluem em preconizar práticas de ensino e projetos político-pedagógicos baseados na valorização da “cultura negra”, na revisão do conteúdo dos livros didáticos e paradidáticos, na postura de respeito aos alunos negros em sala de aula, o que implica coibir as ofensas e os apelidos depreciativos, as brincadeiras e as piadas politicamente incorretas relacionadas aos traços fisionômicos – como o tipo de lábio, o formato do nariz, a textura dos cabelos, a cor da pele – de tais alunos, sem falar nos discursos de intolerância às religiões de matriz africana. Para que tais práticas de ensino e projetos pedagógicos se cristalizem, faz-se mister o apoio das Secretarias de Educação dos estados e municípios e o efetivo envolvimento da comunidade escolar. Várias experiências de educação voltadas à diversidade étnico-racial emergem – ou mesmo se consolidam –, o que leva a crer que a atual mobilização do sistema de ensino em prol dos direitos da população negra é promissora.
Qualquer plataforma de mudança no ensino demanda o engajamento da comunidade escolar. Além disso, devem existir programas de qualificação docente. Há professores que carecem de formação para tratar satisfatoriamente da história da população negra e da diversidade étnico-racial em sala de aula. Daí a relevância da iniciativa do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), e das Secretarias de Educação de diversos estados e municípios, de oferecerem, como desdobramento da Lei n° 10.639, cursos de formação e especialização de professores, centrados nas temáticas africana, afro-brasileira e antirracista.
Porém, somente qualificar os professores e futuros professores numa pedagogia multirracial e pluriétnica não é suficiente. Também é recomendável o desenvolvimento de materiais didáticos que apresentem uma abordagem atualizada do ensino de história e cultura afro-brasileiras. O manual didático, apesar do discurso da necessidade de utilizar fontes diversas para o ensino, é o recurso didático mais utilizado nas salas de aulas. Assim, qualquer lei que pretenda incorporar novos conteúdos ou modificar conteúdos já consagrados deveria pensar em formas de disponibilizar no livro didático essas informações.
Ademais, o professor de História, particularmente, ganharia densidade ao investir num novo olhar sobre a história do Brasil, ressaltando o papel dos africanos e seus descendentes na formação da nação. É importante problematizar a ideia do “escravizado” ou “negro” como vítima. Para se contrapor às imagens recorrentes de algumas pinturas de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) – o escravizado apanhando no pelourinho, recebendo palmatória ou sendo castigado no chão com pés e mãos acorrentados –, sugere-se que o professor apresente imagens e experiências que mostrem os africanos e seus descendentes como protagonistas, sujeitos históricos, mesmo que escravizados. Por exemplo, a gravura de Moritz Rugendas (1802-1858) que retrata uma roda de capoeira ou a aquarela de Debret que mostra uma vendedora de caju.
O professor poderia salientar a diversidade de experiências de ser “escravizado” ou “negro”, permitindo que os alunos conheçam diferentes trajetórias, organizações familiares, formas de sociabilidade e de relação (ou não) com a religião. Tal abordagem ajuda a mostrar a complexidade de experiências para além das imagens cristalizadas dos escravizados como sujeitos passivos. Não se recomenda ao professor deixar de falar sobre as atrocidades relacionadas à escravização de africanos e ao tráfico transatlântico, porém, ele não deve falar apenas delas. Uma boa estratégia é pautar as diferentes formas de resistência dos africanos e seus descendentes à escravidão.
Cerca de 5,5 milhões de africanos foram trazidos à força para o país, e estima-se que mais de 660 mil morreram antes do fim da viagem. Se estes números não forem adequadamente trabalhados, podem não significar muita coisa. Por vezes, pode ser mais interessante partir de casos particulares para apreender um enfoque geral: uma biografia de pessoas afro-brasileiras, sem cair na tentação da heroicização, permite explorar as formas diferenciadas de ser pessoa negra e de conviver com a presença do racismo nos diversos contextos da história do Brasil. O que significava ser uma pessoa negra e culta em plena vigência da escravidão, como foi o caso de Francisco Montezuma? O quanto a condição de liberto marcou a ação política de Luiz Gama? Qual o papel dos intelectuais e ativistas negros e negras – como José Correia Leite, Abdias Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento – no processo de afirmação identitária e lutas antirracistas do século XX? Tais histórias de vida podem se tornar uma ferramenta eficaz, por estar ligada a experiências do vivido, de abordagem da questão de como, apesar de não declarado, o preconceito racial na sociedade brasileira se manifesta e racializa uma parte expressiva da população.
É fundamental também disponibilizar aos alunos a consulta a fontes e recursos diversos, que abram a possibilidade de reconstituições autênticas: cartas, jornais, mapas, dicionários, processos, fotografias, literatura, músicas, documentários, artefatos ou narrativas de experiência individual (como, por exemplo, relatos de cronistas e viajantes). O professor também pode incentivar os alunos a realizarem entrevistas com pessoas negras da comunidade, uma vez que a oralidade se constitui numa fonte produtora de informações importantes para a reconstrução de experiências de vida, especialmente entre as camadas populares e mesmo iletradas.
Os casos particulares, trazidos por fontes históricas (escritas ou orais), podem ajudar a compreender os acontecimentos, as trajetórias e processos históricos em sua complexidade. As experiências de vida de mulheres e homens negros evidenciam o quanto, apesar dos estorvos e limites, esses sujeitos modificaram e romperam com os caminhos e destinos que lhes tentaram impor, seja no período escravista ou no pós-Abolição. Suas experiências ampliaram e diversificaram as possibilidades de vida e cultura.
Porém, vale um alerta: é à luz do ambiente escolar que novas estratégias de ensino e novos conteúdos podem ser acionados ou não. As políticas públicas de valorização da história e cultura africanas e afro-brasileiras suscitam, portanto, numa emergente discussão do ambiente escolar; que o professor compreenda a importância de um ensino formador de identidades, e que tenha o suporte material e financeiro para efetivar esse ensino-aprendizagem. Apontar a responsabilidade que os professores – a partir de suas trajetórias de vida, subjetividades, experiência formativa e profissional – têm nesse processo de implementação da Lei n° 10.639 não minimiza o papel central de políticas públicas, tanto na formação docente, quanto na produção de materiais, no fornecimento de apoio e suportes, no acompanhamento e fiscalização da aplicação dessa legislação pelos poderes públicos federal, estadual e municipal.
De fato, há um descompasso entre o que se produz no mundo acadêmico, no geral, e na historiografia, em particular, e o que chega, na forma de recurso de ensino/aprendizagem, à comunidade escolar. Há professores do Ensino Fundamental e Médio que negligenciam parte das novas pesquisas e abordagens sobre a história da escravidão, do pós-Abolição, da mulher negra, do samba, da capoeira, do candomblé, enfim, do protagonismo da população afrodescendente no cenário econômico, social, político, artístico-cultural e religioso.
Em vista de suprir parte desse descompasso existente entre os domínios da pesquisa e do ensino a partir de livros didáticos e paradidáticos, a própria Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) do MEC lançou uma série de publicações dedicadas à educação antirracista. Também ocorreram alterações nos editais do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – a mais importante política estatal de avaliação e distribuição de livros didáticos –, que, a partir de 2008, passaram a exigir conteúdos relacionados às histórias africana e afro-brasileira, rompendo a sub-representação ou, antes, a omissão que predominava sobre a assunto nas coleções de História do Ensino Fundamental e Médio. Posso mencionar, ainda, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e as iniciativas da Fundação Palmares, com a criação de documentários e livros que discutem as questões inerentes à “história do negro no Brasil”, à “literatura afro-brasileira” e à “cultura do ponto de vista dos afro-brasileiros”.
Para dar conta desses desafios no plano do ensino/aprendizagem, as universidades – em parceria com o MEC, as Secretarias (municipais e estaduais) de Educação, as entidades em defesa dos direitos da população negra, grupos culturais, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisa, como os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABIs) – precisam não só buscarem subsídios e trocarem experiências para planos institucionais, diretrizes pedagógicas e projetos de ensino, como também promoverem cursos permanentes de formação e capacitação docente na área. Não basta ser criativo, o professor precisa ter uma formação teórica básica para desenvolver uma prática de ensino inovadora, antirracista e em sintonia com a proposta da Lei n° 10.639.
É aí que entra o papel das universidades, especialmente as públicas, que passam por uma renovação epistemológica, com a promoção de concursos para professores de História da África e a ampliação da oferta de disciplinas com temáticas africanas e afro-brasileiras em diversos cursos de graduação. De base epistemológica eurocentrada, a universidade pública vem sendo questionada a partir de histórias descolonizadas: afrocentradas e negro-centradas. Professores da rede, paulatinamente, estão capitaneando essa inflexão epistemológica, lutando contra as lacunas em suas formações acadêmicas e as dificuldades para acessar materiais de apoio.
Aos educadores convém abraçar a luta contra o eurocentrismo e o etnocentrismo presentes nos currículos escolares. No limite, toda a sociedade brasileira deveria estar enfronhada com a adoção do ensino de história e cultura afro-brasileiras na rede escolar. A presença de matrizes culturais africanas no nosso pensamento, comportamento e religiosidade constituem evidências de um legado civilizacional – certamente recriado, mas vivo – que urge ser reconhecido. Precisamos repensar a nossa própria história (e nossa identidade), construirmos referências, recuperarmos memórias e incluirmos novos sujeitos. Aprendermos pelo viés da diversidade e do multiculturalismo vai significar um ganho para o conjunto da sociedade brasileira. Afinal, o racismo é um problema de todos e envolve, direta ou indiretamente, o conjunto da nação.
Atualmente, eu estou produzindo um artigo de balanço dos 22 anos de vigência da Lei n° 10.639[2]. Em função disso, tenho me debruçado nas pesquisas sobre o assunto. Algumas delas consignam que os efeitos dos 22 anos da Lei sejam limitados e contraditórios na esfera da educação escolar. Porém, é sempre importante salientar que, num país marcado por uma história de exclusão de sua população negra de direitos fundamentais, mudanças estruturais enfrentam a resistência de pessoas, grupos e instituições, como as escolas. Por outro lado, muitas outras pesquisas indicam que são inegáveis os efeitos da Lei n° 10.639 e toda a legislação posterior, no âmbito dos currículos prescritos e praticados da educação básica e superior, na formação inicial e continuada de professores, na produção, avaliação e uso de materiais didáticos e na própria forma de produção e difusão de conhecimentos no âmbito das universidades, centros de pesquisas e arquivos e museus.
Por fim, cumpre frisar que não é mais plausível pensar o Brasil sem um amplo debate público sobre as questões relacionadas ao racismo e antirracismo. A Lei n° 10.639 tratou de uma conquista democrática e tem provocado avanços no enfrentamento do racismo epistêmico, à colonialidade do saber e às desigualdades étnico-raciais no sistema de ensino brasileiro. É verdade que as mudanças ocasionadas pela legislação até aqui são insuficientes, mas elas estão em curso na arena de disputa do sistema educacional e poderão ser aprofundadas ou aceleradas conforme a capacidade de articulação e agenciamento dos setores interessados em intervir no processo.
Notas
[1] Para quem se interessar, eis a referência do artigo: DOMINGUES, Petrônio. O recinto sagrado: educação e antirracismo no Brasil. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 39, n. 138, p. 963-994, set./dez. 2009.
[2] O artigo mencionado foi publicado recentemente. Cf. DOMINGUES, Petrônio. A Lei 10.639/03 e o ensino de história e cultura afro-brasileira. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 55, e11162, p. 1-17, 2025. DOI: 10.1590/1980531411162.
SANTANA, Geferson. “Não é mais plausível pensar o Brasil sem um amplo debate público sobre as questões relacionadas ao racismo e antirracismo”: entrevista concedida por Petrônio Domingues. História Editorial, v. 2, n. 2, 1 ago. 2025. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16708181. Disponível em: https://encurtador.com.br/MrcyK. Acesso em: 1 ago. 2025.

Doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP). Vinculado a revistas e grupos internacionais de pesquisa, como o Laboratorio de Investigación en Literatura y Cultura del Océano y Catástrofes da Cátedra Fernão de Magalhães do Instituto Camões (IC), Portugal, e da Universidad de Playa Ancha (UPLA), Chile. Há 10 anos trabalha com edição de materiais didáticos, editor de livros e revistas da área de História.
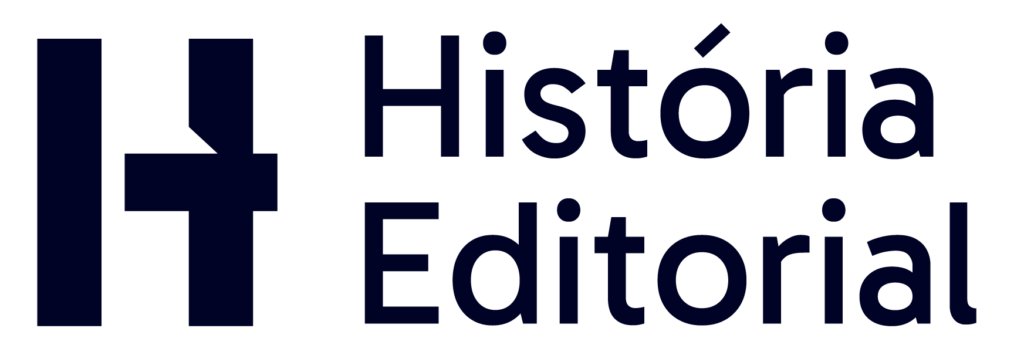
© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.