RESENHA |
O historiador e professor Dr. Luís Cláudio Rocha Henriques de Moura analisa o livro “Nordeste 1817: estruturas e argumentos” do professor emérito Carlos Guilherme Mota da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), que ganhou uma segunda edição pela editora Perspectiva e Edições SESC, em 2022.
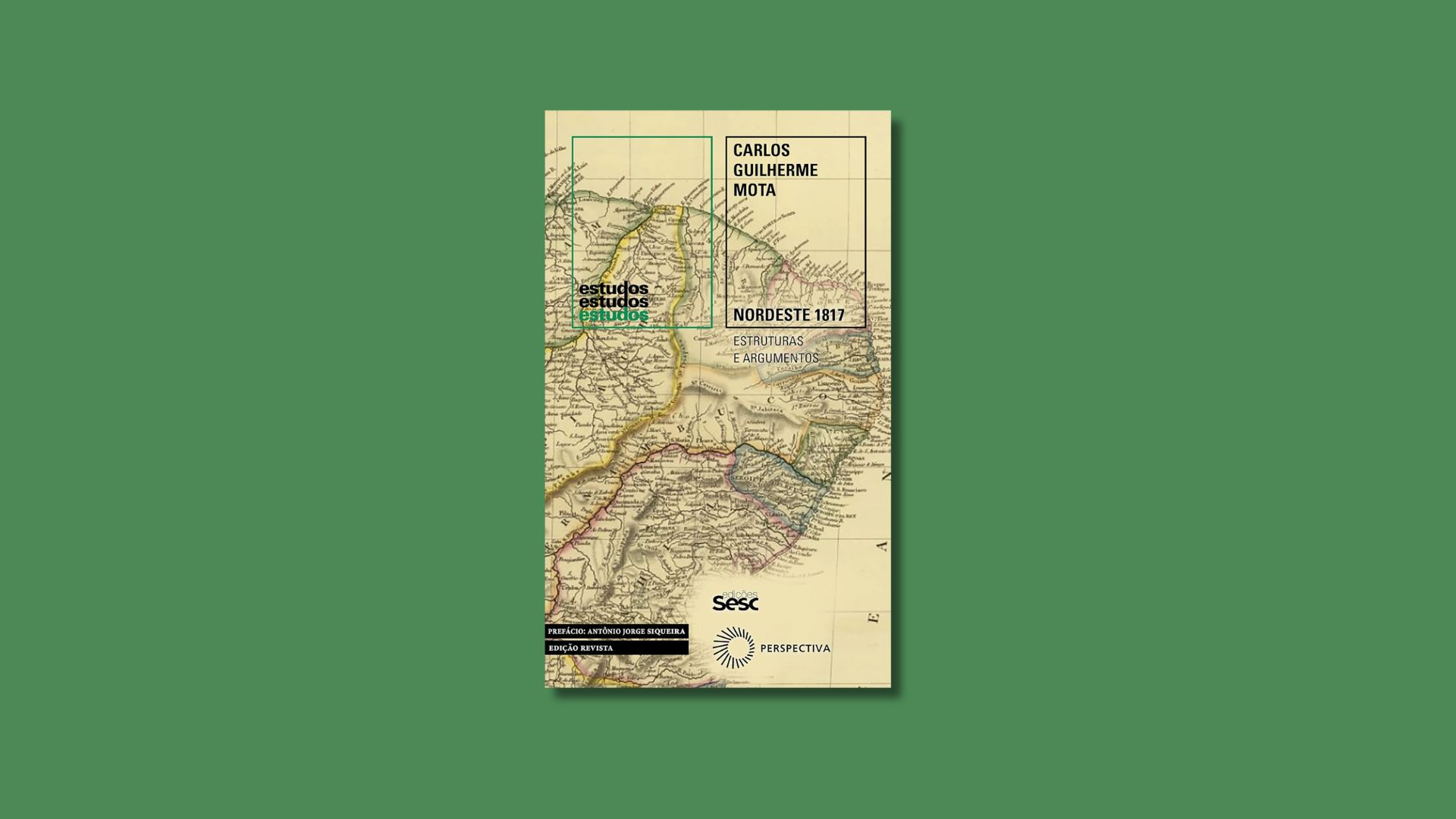
O historiador Carlos Guilherme Mota (1941-) dispensa apresentações para o público especializado em História pela sua importante contribuição para a compreensão de nosso passado nacional e suas inovadoras reflexões ao fazer historiográfico. Nordeste 1817: estruturas e argumentos é uma obra que reflete o itinerário do professor e pesquisador, cuja escrita monoteica, voltada para desvendar e/ou tecer relações e narrativas com o nosso passado, marcou gerações de historiadores e de acadêmicos interessados na compreensão de uma região que ocupa especial presença na memória brasileira. É essa uma obra que contém elementos daquilo que construímos coletivamente como tradições dos Brasis, de nação, de identidades, de caminhos historiográficos, pelo que vale considerar nada mais pertinente sua republicação com 50 anos depois e no momento das rememorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 2022.

Em concreto, a obra volta o olhar para essa complexa tradição que se constituiu como Nordeste, presente em nossos mitos de origens, notável no período colonial, com relevante poder durante o Império e papéis diversos nas diferentes Repúblicas constituídas nesses últimos 130 anos. Nesse emaranhado novelo temporal, o Nordeste foi palco de governos e ideias despóticas, ao mesmo tempo em que nele brotavam resistências e lutas progressistas, com períodos nos quais insurgentes e referenciais democráticos foram subjugados por personagens e processos autoritários que compõem momentos da antiga América Portuguesa.
Por ironia, talvez da história, ou da historiografia, o livro que leva na composição de seu título o conhecido ano de 1817, um marco quando se estuda as insurreições e levantes ocorridos na região, foi escrito em um dos momentos de menor liberdade política e intelectual do país. Sua publicação se deu quando corria o ano de 1971, caracterizado por forte repressão, infligida pela presidência (1969-1974) do General Emílio Garrastazu Médici (1905-1985), durante o último período de ditadura cívico-militar (1964-1985), que se instaurou à força sobre o Brasil.
Revolução, república, nativismos, Liberalismo, autonomia, antilusitanismo e identidades são pontos centrais que caracterizam as análises e ideias presentes na literatura que se debruça sobre os levantes ocorridos em 1817. Este caracteriza-se como um momento de crise do Antigo Sistema Colonial e da pré-independência, com a região luso-brasileira governada por monarcas portugueses absolutistas, ligados à casa dos Bourbon-Bragança, e, assim, sem uma Constituição até o início dos anos de 1820. Os referenciais de contestação à antiga ordem que aqui chegavam, somados às ideias francesas do século XVIII e à independência dos Estados Unidos da América (EUA), eram também os que vinham da América Hispânica. Desde 1811, a região vizinha passava por constantes turbilhões independentistas, que se constituiriam nas décadas seguintes numa vintena de países republicanos, promovendo uma “internacionalização” de suas economias no mercado mundial. Com proximidades ao vocabulário liberal das guerras de independência na América Hispânica, ao contrapor “realistas” e “patriotas”, liberais e conservadores, Pernambuco se ligou pioneiramente a esse processo que Mota denomina “mudança de mentalidades” e “descolonização”, vivenciado inicialmente em 1817, e depois, em maior profundidade, nos levantes rebeldes de 1824.
Mota, logo na primeira página de Nordeste 1817, introduz sem cerimônia questões que inovam e qualificam seu trabalho historiográfico como uma produção própria na investigação do tema proposto. Indica a maneira com que se alinha na busca de compreender o que pensam aquelas pessoas, na busca da sua percepção das “ideias de revolução” – da pensada e da realizada – e da “consciência social” que movem naquelas paragens da então colônia portuguesa. Dispara o autor na abertura:
O objetivo central da investigação é saber o que os insurgentes nordestinos de 1817 pensavam de sua “revolução”. Descobrir as variáveis que interferiram nos diagnósticos realizados naquele momento privilegiado para o estudo da mentalidade nordestina e, em certa medida, brasileira, eis a meta a ser atingida.[1]
Para alcançar o que se pensava e compreender “conceitos-chave e expressões significativas de estados mentais – formas de pensamento”, Mota se debruça sobre o vocabulário utilizado pelos nordestinos pouco antes de 1822, em busca de uma leitura semiótica da forma de “percepcionar as realidades sociais vividas”. Uma tarefa difícil frente ao grande território do Nordeste e às conflituosas ideologias em disputas, que, contudo, é realizada sem por isso menosprezar processos econômicos como o descontentamento com o monopólio comercial, a queda do preço do açúcar ou os conflitos entre a “aristocracia nativa”, os “comerciantes portugueses” e os pequenos agricultores, pobres e escravizados. Retrata-se, assim, um processo liderado pelas elites, porém, com participação popular. Este é um aspecto importante que o livro traz, ao considerar os vários setores sociais e o significado dessa diversidade na compreensão dos termos. Um trecho rico nesse sentido é sua análise de “classe”, na época apresentada ainda como categoria branda e flexível, rejeitando o processo como luta de classes, mas que muito nos fala da “alteração do nível da consciência social” e sobre as relações sociais de 1817.
Para o autor, o potencial revolucionário – que envolvia “castas” distintas, com senhores, homens pobres, negros livres, camadas intermediárias e escravizados – mostra a amplitude das ideias para além das camadas sociais privilegiadas. As reinvindicações eram amplas, e, apesar da presença de senhores, a contestação à ordem escravocrata se registrava em alguns dos horizontes de expectativas circulantes nas mentes dos grupos de insurgentes, que queriam uma “descolonização acelerada e radical”. De maneira geral, em relação ao desmonte do sistema escravocrata, havia três grupos: os revolucionários a favor da abolição, os que eram contra o fim desse sistema, e uns terceiros, reformadores e mais fortes politicamente, a favor da abolição a longo prazo. No entanto, o que se estabeleceu foi a ordem da aristocracia rural, proprietária de terras e de escravizados, na busca de liberalização do sistema contra o mando português. Segundo Mota, “Propriedade, descolonização e ‘liberdade’, eis o trinômio definidor da Revolução de 1817”. Assim, entre o mundo das ideias e a realização das ações, as concretizações são incertas e nem sempre efetivadas perante fatores internos e externos, problemas encontrados e incompatibilidades entre personagens, conceitos e conjunturas que permeiam as reflexões presentes na obra, sendo considerados os diversos grupos envolvidos naquele momento.
Antes de seguir refletindo sobre as mentalidades de 1817 presentes do Nordeste, procede indicar os balizadores das análises e as fontes que permitiram encontrar as crenças e ideologias daqueles insurgentes. O trabalho em discussão, no campo teórico-metodológico, é realizado com fontes que remetem aos envolvidos e aos contemporâneos dos eventos, com documentos que representam as ideias balizadoras dos desejos contra-hegemônicos ao colonialismo decimonônico português, com sua ordem política, estamental, econômica e escravocrata, perante à heterogeneidade da sociedade pernambucana e nordestina da época, com claras dicotomias sociais. A análise das fontes é apresentada com clara explicação à postura defendida sobre a quantidade de representações dos lados envolvidos, ainda com a limitação documental derivada de parte considerável das fontes provirem de agentes da revolução, com a produção de informações filtradas, silenciamentos, temporalidades e intencionalidades diversas. Da mesma forma, o olhar se dedica a compreender termos que se modificaram, aumentaram de frequência ou apareceram no momento, ao tempo em que se reconhece a dificuldade da empreitada com relação a um período “que não dispõe de séries documentais completas”, pelo espaço da oralidade e “o problema das fontes para o estudo da consciência pré-política da escravaria”.
A pesquisa documental foi ampla, com a utilização de fontes, nacionais e estrangeiras, que abarcam as várias regiões e províncias do Brasil, assim como documentos de países como Portugal e Estados Unidos. Livros e documentos escritos por insurgentes, governantes e insurretos, viajantes, Revistas, sobretudo ligadas aos Institutos Históricos, depoimentos recolhidos, documentação compilada e organizada posteriormente, percorrem distintos momentos dos materiais produzidos em torno do evento analisado. Entre eles estão jornais da época – em especial, o Correio Braziliense (1808-1822), publicado desde Londres –, dicionários, mapas, legislações, nacionais e estrangeiras, principalmente a portuguesa. A compreensão de ideias vindas da Europa e do exemplo das ex-colônias inglesas da América do Norte[2], seu uso como modelos e seu encontro com a realidade social local, são de grande importância para a análise dos termos discutidos, para a compreensão de seu significado político e social, como disse Gérman Colmenares.
As reflexões do mestre partem de fontes testemunhais que vão dos documentos de insurgentes à sua organização posterior para a memória e historiografia brasileira. Entre os diversos documentos citados, destacamos o livro publicado em 1840, História da Revolução de Pernambuco em 1817, de autoria do intelectual, político e insurgente Monsenhor Francisco Muniz Tavares (1793-1876). Da mesma maneira, apontamos o trabalho publicado em 1875 por Antonio Joaquim de Melo (1794-1873), Obras Políticas e Literarias, com escritos póstumos de Frei Caneca (1779-1825), fuzilado devido aos levantes pernambucanos de 1824. Também de importância foi a Memoria Justificativa do contrarrevolucionário Luís do Rego Barreto (1777-1840), governador de Pernambuco de 1817 a 1821, publicada em Lisboa no ano de 1822. Entre os contributos estrangeiros, está o trabalho de Henry Koster (1784-1820), com Travels in Brazil, publicada em 1817, e, ainda, a obra Notas dominicaes tomadas durante uma residencia em Portugal e no Brasil nos annos de 1816, 1817 e 1818, de autoria do comerciante Louis-Francois Tollenare (1780-1853), vindas à luz em português apenas em 1905.
Por fim, indicamos como fonte a organização documental das publicações da Biblioteca Nacional nos Documentos Históricos, divididos em volumes lançados entre 1953 e 1955, sob o trabalho rigoroso de José Honório Rodrigues (1913-1987). Em conjunto, para a compreensão do problema de estudo como um processo, Mota analisa a semântica dos termos utilizados em levantes anteriores, percorrendo as trilhas dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, organizados por Rodolfo Garcia, entre 1936 e 1938, e dos Autos da Devassa do Levantamento e Sedição Intentados na Bahia, publicados em 1959 por Luís Henrique Dias Tavares (1926-2020). Esses trabalhos são de grande valia para a compreensão do processo que denomina de “viragem mental”, ocorrido desde o final do século XVIII, e que vive uma inflexão importante em 1817.
Da forma rebelde, Mota amplia os movimentos contestatórios para além da província de Pernambuco, apesar de ser este o espaço central dos eventos, mesmo que o observe enquanto acontecimento nordestino pertencente aos processos de descolonização portuguesa, ocorrido ao mesmo tempo em que se dava no Brasil, sobretudo após os tratados de 1810, a implementação da hegemonia inglesa, alimentada por sua Revolução Industrial. A reflexão que amplia o evento da Revolução Pernambucana de 1817 para a revolução no Nordeste de 1817 é central. Busca-se, assim, formar uma república, com Pernambuco, Paraíba, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. O contexto internacional resulta essencial, ainda, na explicação sobre a existência e o interesse de uma revolução para além de Pernambuco, de caráter regional, passível de reconhecimento externo como Estado. Com a regionalização da revolução, internacionaliza o evento e mostra as intenções emancipadoras dos patriotas, filhos da terra. Dessa forma, vê em 1817 a formação pioneira de um futuro Estado nacional, já que, de alguma forma, o governo provisório instaurado em Recife (de 6 de março a 19 de maio) teria contribuído para a construção do que comporia para Mota como “o primeiro governo nacional brasileiro”. A nacionalidade teria surgido, então, antes de um Estado nacional, pois, como afirma o autor, “vale ressaltar que a ideia de nacionalidade surgia no primeiro texto jurídico revolucionário”.
A própria escravidão, apesar de desejada por setores das lideranças, não podia ser extinta, pois “a permanência da mão de obra escrava era um requisito estrutural para a descolonização” como disse Mota. No entanto, não deixa de reconhecer a importância de seus impactos e sua força na viragem mental na sociedade brasileira de inícios do século XIX. Os setores das elites que viraram hegemônicos no processo revolucionário concebiam uma abolição “lenta, regular e legal” em suas palavras. Isso, sem falar no receio de uma haitianização no Brasil. A participação de mestiços, negros livres e escravizados foi aceita num primeiro momento, visando evitar uma contrarrevolução. Tomado o poder, esses setores foram cada vez mais excluídos das decisões.
Mota rompe com a tradição de uma historiografia que assume a categoria nativa de ter havido uma Revolução em 1817, pois suas propostas não foram concretizadas pelos revolucionários, e o processo teria ficado, então, incompleto. Assim, utiliza-se o termo “insurreição”. Da mesma maneira, não considera uma revolução “metropolitana” de caráter “burguês e “nacional” pela passagem da dependência portuguesa à inglesa, na expansão comercial capitalista, o que a faz concebê-la como “reforma” e não como revolução. Como vimos, a revolução não se concretiza, pois, além da repressão da Coroa, a elite Nordestina “era estamental-escravocrata”, heterogênea em sua composição, e não queria a alteração das estruturas do mundo do trabalho e da propriedade, embora pudesse aceitar, no máximo, a liberalização das relações com o poder metropolitano português. A violência da contrarrevolução foi intensa; porém, compreendia Mota que “as hierarquias e as relações de poder” já haviam sido abaladas.
Tampouco Mota assume a história oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e do pai da historiografia brasileira, Adolpho Varnhagen (1816-1878), impulsionada em meados do século XIX. Neste ponto, permito-me chamar a atenção para um elemento: uma importante obra relacionada às origens da historiografia oficial brasileira está ligada a José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima (1768-1817), o Padre Roma, representante do governo provisório enviado para Bahia, capturado e fuzilado em 1817. Seu filho e ex-general de Simón Bolívar (1783-1830) nas lutas de independência na América hispânica (1819-1831), José Inácio de Abreu e Lima (1794-1869), respondera ao chamado do IHGB para concorrer ao concurso sobre a escrita de uma história propriamente brasileira. Em 1843, lançou o Compendio da Historia do Brazil, desde o seu descobrimento até o magestoso acto da coroação e sagração no Sr. D. Pedro II. A obra é reprovada pelo IHGB e por Varnhagen, produzindo um embate entre Abreu e Lima e o futuro pai da historiografia, verificado em mais três obras: Primeiro Juizo submetido ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro pelo seu sócio Francisco Adolpho de Varnhagen, acerca do Compendio da Historia do Brasil pelo Sr. José Ignácio de Abreu e Lima, de 1843, e Resposta do General J. I. de Abreu e Lima ao Cônego Januário da Cunha Barbosa ou análise do primeiro juizo de Francisco Adolf de Varnhagen acerca do Compendio da Historia do Brazil, em 1844, e, novamente de Varnhagen, a Réplica apologética de um escritor caluniado e Juízo final de um plagiário difamador que se intitula general, lançada em 1846.
Desde a avaliação de Varnhagen ao Compêndio da História do Brasil, o tom oficialista e contra as insurgências se faz notar. Varnhagen não concorda com as narrativas de Abreu e Lima, achando-as inexatas, com plágios e versões que não estariam de acordo com os acontecimentos de 1817 e de outros levantes. Varnhagen afirma: “Com efeito além da proteção e desvelo paternal as letras têem encontrado no animo do nosso generoso monarca”, posicionando-se politicamente em sua escrita do passado. O nativismo e o pan-americanismo de Abreu e Lima é contestado, mesmo este mostrando uma leitura negativa de 1817. Abreu e Lima o descreve como “um acontecimento desgraçado, cujo sanguinolento desfecho derramou o luto sobre a província inteira (…) e arruinando muitas famílias, que ainda soffrem a conseqüência da bárbara legislação dáquelles tempos. Fallamos da malograda revolução de Pernambuco”.
O próprio Mota reconhece a importância do trabalho do pernambucano, considerando-o fundamental para o momento e uma das referências para a proposta de uma periodização e de uma consciência nacional. Pelas suas palavras:
A nosso ver, revelam perspectiva mais avançada e estimulante que os de Varnhagen, dentre outros: a História do Brasil, de Francisco Solano Constâncio, e o conhecido Compendio da História do Brasil, escrito pelo general José Inácio de Abreu e Lima, o ‘general das massas’. Tem-se, neles, dois marcos que indicam a abertura de um novo período da história do autoconhecimento, ou melhor, da definição de uma identidade histórica propriamente nacional.
Em sua viagem semântica, ao fazer as fontes falarem, Mota realiza o que propõe ao leitor quando as interpreta no passo do tempo, em sua heterogeneidade e com sua inconclusão como proposta. Na leitura agradável, convence de que a revolução é nordestina, de que não é uma revolução e sim uma insurreição, de que as estruturas não são contestadas, mas reafirmadas, após o processo contrarrevolucionário, de que classe não é um conceito definido naquele momento, e, ainda, de que os insurgentes liberais utilizam modelos externos que não se encontram na sociedade local. Entretanto, de forma sincera, não apaga a contribuição da -experiência de 1817, sua marca na viragem mental e o poder identitário do que viria ser a tradição narrativa de constituição do Estado nacional brasileiro, antes mesmo do oficial 1822.
Notas
[1] Os Estados Unidos têm um espaço de destaque nos levantes de 1817, ligados à história da incipiente diplomacia, com o envio de um representante, Antônio Gonçalves da Cruz (“Cabugá”), e de uma carta do governo provisório para o presidente James Monroe (1758-1831) pedindo apoio.
[2] A chamada Escola dos Annales tem seu início na década de 1930, com uma forte vinculação com a antropologia moderna, nascente nas primeiras décadas do século XX. Suas ideias luziam nas produções sobre o passado elaboradas por seus intelectuais, cujas referências se têm nomes como Émile Durkheim (1858-1917), Marcel Mauss (1872-1950) e Lévy-Brhul (1857-1939), que refletiam sobre mentalidades, representações coletivas, instrumental intelectual, entre outras propostas que instrumentalizaram a Teoria Social.
ABREU E LIMA. J. I. Compendio da Historia do Brazil, desde o seu descobrimento até o magestoso acto da coroação e sagração no Sr. D. Pedro II. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1843.
ABREU E LIMA. J. I. Resposta do General J. I. de Abreu e Lima ao Cônego Januário da Cunha Barbosa ou análise do primeiro juizo de Francisco Adolf de Varnhagen acerca do Compendio da Historia do Brazil. Pernambuco: Typographia de M. F. de Faria, 1844.
BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: Editora UNESP, 1997.
COLMENARES, Gérman. Las convenciones contra la cultura: Ensayos sobre historiografia hispanoamericana del siglo XIX. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1997.
MOTA, Carlos Guilherme. (org). Viagem incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). Formação – histórias. São Paulo: Editora SENAC, 2000.
MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817: estruturas e argumentos. 2. ed., rev. São Paulo: Perspectiva; Edições SESC, 2022.
VARNHAGEN, Adolpho. “Primeiro Juizo submetido ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro pelo seu sócio Francisco Adolpho de Varnhagen, acerca do Compendio da Historia do Brasil pelo Sr. José Ignácio de Abreu e Lima”. Revista Trimensal de História e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 1843. Tomo VI.
VARNHAGEN, Adolpho. Réplica apologética de um escritor caluniado e Juízo final de um plagiário difamador que se intitula general. Madrid: Imprensa da viúva de D. R. J. Dominguez, 1846.
Como citar esta resenha
MOURA, Luís Cláudio Rocha Henriques de. Nordeste 1817. História Editorial, v. 1, n. 1, 30 ago. 2024. (Resenha). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13624076. Disponível em: https://historiaeditorial.com.br/nordeste-1817-estruturas-e-argumentos. Acesso em: 30 ago. 2024.
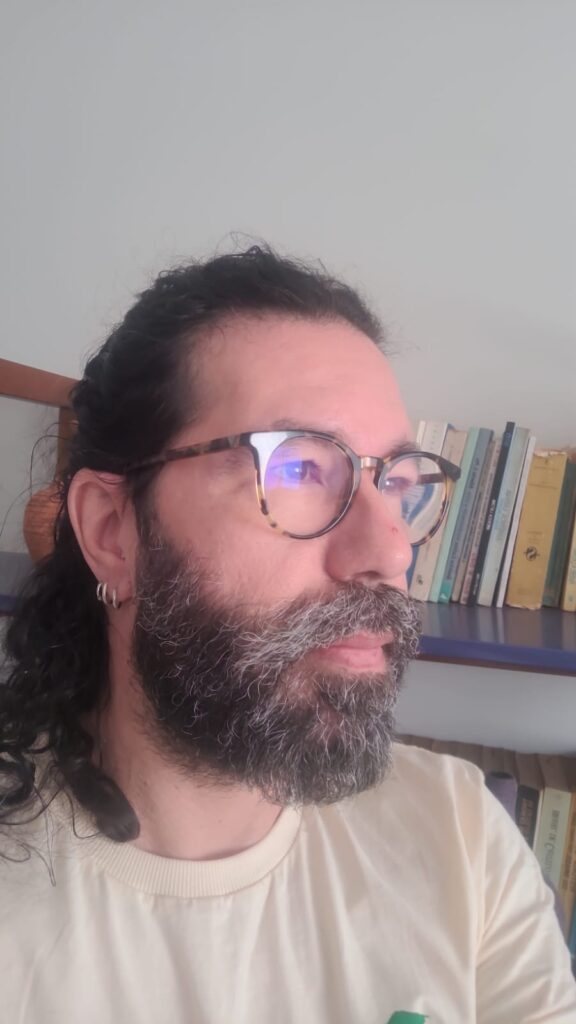
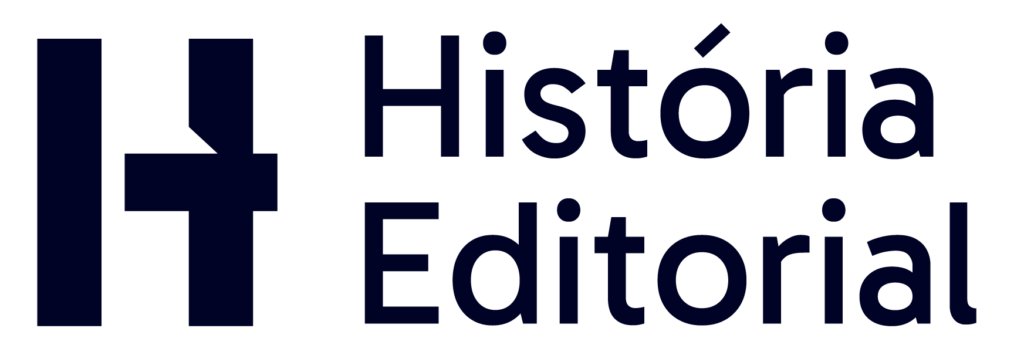
© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.